Painel II – Educação em Ciência: pontos críticos e perspectivas de mudança
Moderador – Rui Namorado Rosa
Rui Namorado Rosa ∗
Embora seja mero moderador, gostaria de dizer duas palavras.
A primeira palavra será um comentário que me foi suscitado por aquilo a que assistimos esta manhã. Comentário que será talvez uma parábola, iniciada pela evocação de Tales de Mileto e da escola filosófica que ele fundou, a abordagem fundadora da reflexão dialéctica para o entendimento do mundo, com seus princípios e método, mas sempre reflexiva e destinada a ser transmitida. O nosso caminho é reinventar essa tradição que vem dos filósofos gregos, a qual, quando veio a modernidade nos séculos XVI e XVII reapareceu de novo, na transmissão do conhecimento racional como na elaboração do emergente conhecimento científico. A comunicação era formalmente apresentada na forma de diálogo, esta era a forma habitual de se exporem os novos conhecimentos. Isso tem a ver com a dialéctica na natureza e no conhecimento dela; como tem a ver com o diálogo ou aspecto social de criação e comunicação do conhecimento. Esta é uma parábola, se me permitem.
Segunda parábola, que também me foi suscitada por aspectos relativos à criação, à transmissão e à partilha do conhecimento científico, tem a ver com uma recordação muito recente minha, da Universidade de Évora ontem à tarde, onde houve um acontecimento interessante. Não fui dele responsável, portanto vou falar como observador externo, acho que é uma notícia interessante; foi uma tarde organizada entre professores e investigadores da Universidade, mas aberta a um público muito mais alargado e jovens das escolas, em que a figura principal foi João Garcia. Sabem quem é João Garcia, o célebre alpinista português, um profissional do alpinismo. Estavam o João Garcia, um professor de geologia, um professor de ciências da atmosfera e um professor de motricidade humana. Foi uma reunião interessante em que, sem ser preciso recorrer a grandes meios experimentais, porque o meio experimental era a montanha do Evereste e o investigador era o alpinista João Garcia, não foi preciso ir à
∗ Conselho Nacional de Educação
montanha, a montanha veio até a Universidade. Ele pôde descrever a sua experiência, sob vários pontos de vista, da ascensão dos Himalaias e essa experiência pôde ser comentada pelos vários professores: em relação à formação das montanhas, como e quando é que essas montanhas foram geradas; como é a atmosfera àquelas altitudes, quais as características climatológicas reinantes nessa cordilheira montanhosa, que influencia quer
o clima na Índia quer o clima na China; em relação aos aspectos metabólicos que têm a ver com o teor de oxigénio que aí rareia, só 30% daquele a que estamos habituados, como é que o metabolismo humano se comporta nessas circunstâncias e, daí, como é que o exercício humano está condicionado e pode efectuar-se. Foi um tipo de experiência diferente de outras que foram aqui referidas esta manhã, que também é interessante e serve para mostrar que a criatividade não parou, está sempre em marcha, e que há muitas coisas que se podem fazer.
Temos aqui na mesa, neste painel, o Prof. José Nuno Dias Urbano, a Prof.ª Luísa Veiga, o Prof. António Segadães Tavares e o Prof. Mário Freitas. É por esta ordem que estão no programa, e é por esta ordem que os mencionei.
A Educação em Ciência: Situação e Perspectivas
José Dias Urbano∗
O tema deste painel é a educação em ciência. Por isso começo por esclarecer que me vou referir apenas à educação nas ciências experimentais da natureza, físicas e biológicas. Há quem defenda que as ciências biológicas pertencem também à categoria das ciências físicas, porque os seus objectos de estudo são sistemas físicos como os demais, isto é, são constituídos pelas mesmas partículas que interagem da mesma forma, seguindo as mesmas leis de movimento. Contudo, o mesmo não se poderá dizer dos sistemas sociais.
Com efeito, os componentes dos sistemas sociais não são tratáveis como partículas, porque os humanos não são elementos de um pequeno número de conjuntos de objectos idênticos, caracterizados pelos valores de um reduzido número de observáveis que são representáveis matematicamente por estruturas simples. Além disso, as interacções entre os humanos não são quantificáveis no sentido em que as interacções entre os protões e os electrões, por exemplo, o são. Finalmente, mesmo que as interacções entre os humanos fossem quantificáveis, o comportamento das sociedades não poderia ser determinado partindo do pressuposto que as interacções sociais são predominantemente de dois corpos, tal como acontece com os sistemas físicos. Na verdade, a interacção entre duas pessoas pode depender fortemente da presença de terceiros, quartos, e assim por diante ad infinitum. Por todas estas razões, o método científico moderno, que tanto sucesso teve e continua a ter na descrição da natureza e do seu comportamento, não é directamente aplicável ao estudo dos sistemas sociais. Julgo ser esta a principal razão do desentendimento entre cientistas e sociólogos.
Assim, ao referir-me apenas à educação em ciências físicas, deixo de lado a educação em ciências sociais e do comportamento, e também a
∗ Departamento de Física da Universidade de Coimbra
educação nas artes e nas humanidades, sem prejuízo de reconhecer a sua enorme importância.
Esclarecido este ponto, em Portugal, como em qualquer outro país europeu do mundo contemporâneo, é a escola que desempenha o papel fundamental na educação em ciência. De facto, nenhuma actividade intelectual pode medrar se não tiver um alfobre suficientemente grande de pessoas que a querem seguir ou, pelo menos, entender. Ora só a escola, através de processos de formação obrigatórios, gerais e universais, pode assegurar a criação e manutenção desse alfobre. Outras instituições, incluindo os media ou as que se dedicam à divulgação ou folclorização da ciência, podem desempenhar um papel muito importante, principalmente junto dos mais jovens e dos seus pais, mas o seu papel é sempre de natureza complementar. Essas outras instituições não podem substituir as escolas e não devem , por isso, levá-las a eximir-se da responsabilidade de fornecer a todos os jovens uma formação geral adequada nas ciências experimentais da natureza.
A educação em ciência tem vindo a adquirir cada vez mais importância à medida que as sociedades se desenvolvem pela aplicação de técnicas de base científica. Este facto impede que cidadãos incultos cientificamente possam desempenhar cabalmente os seus direitos e obrigações sociais.
No entanto – e nunca é demais frisar este ponto – embora absolutamente necessária, a educação em ciências não é de todo suficiente, já que as dificuldades com que as pessoas se deparam no seu dia a dia não encontram solução, ou simples conforto, em termos estritamente científicos. Mas o facto de não ser suficiente, não impede que a educação em ciência seja absolutamente necessária para que os jovens possam aproveitar as inúmeras oportunidades que as sociedades contemporâneas lhes oferecem, evitando, simultaneamente, os riscos a elas inerentes.
Julgo ser incontroversa a afirmação de que a educação em ciência em Portugal está muito longe de ser a ideal. Para se verificar a validade desta conclusão basta reparar que nós, portugueses, não somos capazes de criar a riqueza que consumimos e muito menos aquela de que a maioria de nós gostaria de usufruir. Em consequência da descolonização, da democratização e da integração europeia, passámos a viver muito melhor do que há apenas trinta anos. No entanto, já nos apercebemos que esse desenvolvimento assentou em alicerces pouco firmes, o que torna o processo insustentável. É, porventura, por nos termos finalmente apercebido deste facto, que continuamos de mão estendida à esmola comunitária. E o desespero é tal que chegámos ao ponto de recriminar o esmoler, ameaçando
o de recusar a espórtula se ela não for suficiente para continuar a alimentar os nossos hábitos consumistas.
A exemplo de outros países que partiram duma posição semelhante à nossa e agora já se encontram em estádios superiores de desenvolvimento, só conseguiremos assegurar o desenvolvimento que desejamos, e também a sua sustentabilidade, se passarmos a contribuir com a nossa quota parte nos processos globais de criação de riqueza. Ora, como é bem conhecido, esse objectivo só pode ser alcançado por um incremento substancial da qualificação dos nosso recursos humanos, o que passa imprescindivelmente por uma melhoria muito considerável da educação em ciência e tecnologia. Precisamos, por isso, de uma escola nova, uma escola inequivocamente virada para a ciência.
Os pontos críticos da educação em ciência em Portugal estão há muito identificados, mas não tem havido vontade suficiente para os corrigir. Na verdade, o Estado, as escolas e as universidades, por um lado; os professores, os estudantes e os pais, pelo outro; em suma todos os principais agentes e destinatários do sistema educativo parecem conformados, senão mesmo satisfeitos, com a situação actual. E procuram continuar a ignorar que a educação que estamos a fornecer aos nossos jovens contribui para o empobrecimento diário do nosso país em relação ao resto da Europa. Não há dúvida que a nossa educação tem melhorado em termos absolutos, mas a educação dos povos com quem temos de partilhar o futuro tem melhorado muito mais, de modo que, em termos relativos, continuamos a atrasar-nos.
As causas deste atraso são bem conhecidas de todos: a educação que as escolas proporcionam não identifica as qualidades específicas dos jovens, não lhes desenvolve o raciocínio nem o espírito crítico e não lhes fornece conhecimentos científicos bastantes para saberem identificar correctamente os problemas das sociedades contemporâneas e para lhes dar as soluções que sejam técnica e socialmente as mais adequadas. Em vez disso, o sistema educativo acaba por deseducar os portugueses, enformando-os na retórica fácil, na preguiça e na irresponsabilidade: prisioneiro de padrões retórico-jurídicos antiquados, privilegia o bem-dizer sobre o fazer-bem; moldado por ideais românticos fora de prazo, importados a destempo, considera traumatizante confrontar os estudantes com desafios intelectuais; menosprezando a ciência experimental, não prepara os cidadãos para determinarem, na medida do possível, o seu próprio futuro.
Tudo isto é conhecido, como também é conhecido como se chegou a este ponto. Também se sabe como sair desta situação, embora haja dificuldade em enfrentar os interesses estabelecidos para se iniciar o processo. Como desculpa, talvez mais para nós próprios do que para os outros, dizemos que a nossa economia precisa de resultados imediatos e que a reforma da educação só se faz sentir a longo prazo. Isto é verdade, mas não é toda a verdade. Com efeito, uma decisão firme de expurgar o sistema educativo de todos os seus elementos aberrantes lançaria sinais de racionalidade e de esperança para todos os sectores da sociedade, com efeitos benéficos imediatos. É necessário reformar a educação e quanto mais cedo se iniciar o processo, tanto melhor.
Assim, é preciso modificar, rápida e radicalmente, os actuais sistemas de formação inicial, de contratação, de formação continuada e de progressão na carreira dos professores dos ensinos básico e secundário, centrando-os na ciência e nas boas-práticas pedagógicas, e não nas “notas tiradas” em cursos com estruturas curriculares incomparáveis e em processos de aquisição de “créditos” manifestamente absurdos.
É necessário modificar, rápida e radicalmente, o actual sistema de governo das Universidades, de tal modo que os estudantes deixem de as poder governar em paridade com os docentes e estes deixem de poder ajustar os planos curriculares dos cursos às suas perspectivas de promoção. (Para dar apenas um exemplo, depois da grande reforma de 1970, Harvard está outra vez a redefinir, num único processo (!), os currículos essenciais de todos (!) os seus cursos.)
E tem de se acabar, de uma vez por todas, com o mau hábito de cada ministro, quando toma posse, desatar logo a “reformar”. Porque não se trata de verdadeiras reformas, mas sim de pequenas alterações ao sabor das ideias particulares de quem acabou de ser nomeado para o cargo, e cujo resultado mais visível é o aumento da entropia do sistema.
Depois de tantas pequenas reformas, a verdadeira reforma do sistema educativo, aquela que adaptaria a formação dos nosso jovens às exigências dos mercados globais da era do conhecimento e da informação, ainda se encontra por fazer. Porque esta não pode ser feita apenas por aquele a quem calhou a pasta num momento particular e muito transitório da nossa agitada vida político-partidária. A reforma da educação tem de ser feita pelo menos pelo Governo e pela Assembleia da República, e sempre em consonância com as forças políticas e intelectuais dominantes, para se garantir que o que se faz agora não é desfeito mal caia o Ministro ou o Governo, ou seja alterada a composição da Assembleia da República. A reforma da educação tem de ser também consonante com as boas práticas educativas dos países mais ricos, pois por alguma razão eles são ricos e nós somos pobres.
O Manifesto para a Educação da República, redigido em 2001, foi um grito de alerta para a situação da educação em Portugal e em particular para a situação da educação em ciência. Mas esse enorme grito de revolta foi imediatamente desviado por alguns dirigentes políticos para o campo de luta partidária, e desvalorizado por outros como um diagnóstico catastrofista. Foi pena, porque o Manifesto traduzia as preocupações de uma representação qualificada dos portugueses mais ilustrados deste país e, ao mostrarem-se insensíveis a essas preocupações, os políticos afastaram-se mais um passo da realidade, perdendo uma oportunidade soberana de lançar um sinal de esperança que iluminasse ao menos um pouco o caminho dum futuro que antevê sombrio.
Como estamos a celebrar o Ano Internacional da Física e estou a falar no Conselho Nacional da Educação, ao concluir não posso deixar de repetir
o que já disse aqui noutra ocasião: é necessário passar a encarar a educação como fonte de progresso das sociedades contemporâneas. Toda a educação, mas muito particularmente aquela que diz respeito à Ciência. Ora a última revisão curricular do ensino secundário é um bom exemplo daquilo que não se deve fazer: uma pequena mexida em sentido inverso, que aumenta a entropia do sistema e desvaloriza ainda mais a educação. Com essa “Revisão”, a Física passou a ser, tal como a Química, a Biologia e a Geologia, uma disciplina de opção do 12.º segundo ano de escolaridade para os estudantes que pretendem frequentar cursos de ciências, engenharia e tecnologia. No ano em que se celebra Albert Einstein promovendo a Física a todos os níveis no mundo inteiro, em Portugal apenas se exige aos referidos estudantes que optem por uma daquelas quatro disciplinas. Mas apenas por uma delas! Além disso, a todas elas deixou de haver exame nacional!
Como se isto não bastasse, os estudos realizados pelas Sociedades Portuguesas de Física e de Química com o patrocínio da Fundação Gulbenkian, permitem concluir que a Física é maioritariamente ensinada no ensino básico e secundário por professores que não tiveram formação específica nessa disciplina, tanto inicial como continuada. A Física é ensinada por professores que, na sua maioria, não gostam da disciplina e não estão dispostos a estudá-la! Há, felizmente, algumas excepções, mas são apenas excepções, mais notadas por serem tão poucas!
Desde a descoberta da Mecânica Quântica em 1925-26, a Física é a base das ciências experimentais da Natureza . Por isso ela é absolutamente indispensável na formação em Ciências. A continuar a presente situação, a maioria dos nossos estudantes não receberá a formação em Ciências necessária para enfrentar com perspectivas de sucesso os problemas que os aguardam na sua vida activa. Porque não é apenas o conhecimento específico que fica em falta, é a atitude cultural que fica enviesada de nascença.
Tal como em outros momentos cruciais da nossa história, não sabemos bem o que nos aguarda. Mas, ao contrário de muitas outras ocasiões, começamos a ficar entregues a nós próprios. Não temos mais mundos a conquistar, excepto o da ciência, a que temos sistematicamente virado as costas, desde a criação da ciência moderna. É preciso enveredar definitivamente pela senda do progresso científico porque, se persistirmos na desvalorização da ciência, abrimos o caminho para o triunfo, absoluto e absolutamente angustiante, da cultura da incerteza.
Como pela Educação em Ciência se pode ir cultivando a Cidadania:
A saúde, o ambiente e o consumo como temas transversais no ensino básico.
M. Luísa Veiga ∗
No desenvolvimento que faremos do tema insere-se uma prévia e permanente interrogação sobre o futuro da humanidade e sobre o modo como a Educação em Ciência poderá assumir maior supremacia num mundo onde a preocupação com os fins humanos está, em geral, tão comprometida.
Sobre o primeira aspecto, tomarei de empréstimo uma reflexão feita por Luísa Portocarrero Silva e que partilho por inteiro: Sentimos, cada vez mais, a necessidade de fixar como “missão geral da humanidade” a tarefa de impedir que o homem se destrua pelo poder inédito que ele mesmo alcançou com o desenvolvimento da ciência e da técnica. E continua, sob o tema da responsabilidade da Ciência, questionando se o homem poderá não querer fazer o que pode fazer (Silva, 1996:34).
De facto, a maioria da população parece ter a sensação intuitiva de que existe uma necessidade premente de criar um futuro mais sustentável, ainda que nem todas as pessoas estejam em condições de definir de modo preciso
o que tal significa. Mesmo assim, e como se diz num documento da UNESCO (1997) sobre a “Educação para um futuro sustentável: uma visão transdisciplinar para uma acção concertada”, o problema cheira-se no ar, sente-se o seu sabor na água, observa-se nos espaços de habitação mais congestionados e nas paisagens alteradas, lê-se nos jornais e revistas, ouve-se nos noticiários e comentários da rádio e da televisão. São as advertências sobre contaminações (na água da torneira, nos rios, nos mares, nas praias, nos hospitais, nas casas, na alimentação); são os problemas de saúde que crescem e/ou emergem; são as ameaças do sobreaquecimento do
∗ Professora-Coordenadora da Escola Superior de Educação de Coimbra; Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra
planeta; são a destruição da floresta e o desaparecimento de algumas espécies; são os derrames de petróleo; são as inundações, as secas e outros desastres ditos “naturais”; são as migrações massivas, o aumento da intolerância, da violência e do racismo; são a fome, as guerras e o terrorismo; são a corrupção, o desemprego e o crescente fosso entre ricos e pobres.
Sobre tudo isto, os relatos mais banais acerca da vida quotidiana e as conversas informais dão evidências da crescente consciencialização de que algo está mal e de que é urgente mudar. Contudo, especula-se menos sobre as causas dos problemas do que sobre os seus reflexos nas condições de vida das pessoas e das famílias. E a situação, que outrora pareceu afectar de modo mais grave os pobres e os menos favorecidos, passou a inquietar de forma crescente os mais afortunados, pois mesmo para esses se multiplicam os problemas, de que são bons exemplos a diminuição de oportunidades de emprego para os seus filhos e, no mínimo, a convivência destes com comportamentos/riscos sociais pouco favoráveis.
Não há dúvida de que são hoje contraditórias muitas das esperanças anunciadas por um desenvolvimento de que não prescindimos e que nos libertou de muitos preconceitos, a par da opressão, medos, desafios e riscos que sentimos perante algumas ameaças desse desenvolvimento. Daí que sejam muitos os que reclamam a necessidade de uma mudança de paradigma. Paradigma que analise criticamente o perigoso compromisso que a Ciência estabeleceu (seja no domínio das catástrofes ecológicas, da revolução biomédica, das ameaças nucleares, das contaminações, (…) e que nos comprometa com novos modos de agir descentrados do ego e pautados pelo espírito da responsabilidade partilhada, da prudência e da solidariedade.
Mas por detrás destes problemas três questões se colocam: por um lado, há sempre determinantes mais ou menos consciencializadas das nossas acções, sejam essas determinantes do âmbito da moral, do hábito, do dever ou dos princípios; por outro lado, essas acções visam sempre objectivos concretos, ainda que nem sempre consciencializados, e têm implicações directas e/ou indirectas sobre a sociedade e a hierarquia de valores que a estrutura; por outro lado ainda, entre as razões e os fins há meios e processos que não são indiferentes.
Usando uma formulação de Bento de Jesus Caraça, citada por Barata – Moura (2001: 50), podemos então dizer que o que acontecerá (…) é sempre determinado pelo jogo dos elementos em presença. Em cada momento, o homem age sobre o meio que o cerca e o meio age sobre o homem – o que sai desta acção recíproca é o que ela determinar e não o que, em obediência a um obscuro misticismo fatalista, se considera como aquilo que tem de ser. Aquilo que tem de ser não é ainda e, como tal, pode vir a não ser.
Esta posição não fatalista, suportada por muitos outros, nomeadamente por Boaventura Sousa Santos, ao afirmar que o mundo, tal qual o conhecemos, não tem necessariamente de ser como é (Santos, 1997:1), constitui o pressuposto em que assenta a necessidade de reconstrução de uma teoria crítica capaz de responder aos problemas gerados pela centralidade das tecnociências e das tecnoculturas na transição pós – moderna que vivemos, procurando, em simultâneo, como diz João Arriscado Nunes, (…) pôr a Ciência em Cultura e ecologizar o conjunto dos saberes (Nunes, 1999:15).
É neste quadro (aqui sumariamente explorado) que se coloca a cada vez mais urgente necessidade do alcance da massa crítica indispensável a intervenções decididas e decisivas no quadro de uma efectiva democratização cultural dos cidadãos.
Cultura entendida como caminho da liberdade e da cidadania (Coelho, 2001), como terreno e objectivo de luta (Gusmão, 2001), como direito inerente ao ser humano, que abranja, no seu vasto espectro de interesses, o cultivo e a compreensão de aspectos de natureza prática e comunitária, tornando esse ser obreiro da, e responsável pela, destinação mundana individual e colectiva (Barata-Moura, 2001).
Cultura como sistema historicamente mutável de práticas, meios, instituições, grupos, acontecimentos que pode decompor-se em sub-sistemas formais, não-formais e informais, realizáveis em planos sociais diversos. É nesta perspectiva que se fala de cultura política, cultura literária, cultura artística, cultura científica e tecnológica, que mais não são do que critérios de uma descrição de cultura integral, situados em diferentes planos e com distintos domínios de aplicação.
A democratização cultural dos cidadãos é, então, fundamental para a compreensão do sentido que as sociedades e os indivíduos dão às suas vidas, bem como para a compreensão da sua relação com os outros e do mundo em que habitam. Isto porque a cidadania não é apenas uma inerência individual de que cada um de nós se reclama, já que diz respeito a sujeitos em interacção, com os seus próprios interesses, crenças e expectativas, quantas vezes contraditórios.
Mais ainda, a cidadania é distinta de país para país, não obstante a crescente globalização e interdependência dos fenómenos económicos, políticos e culturais. Em alguns países, os direitos de cidadania estão tão consolidados do ponto de vista institucional como do ponto de vista da consciência que deles têm e do exercício que deles fazem os cidadãos. Noutros, pelo contrário, essa consolidação é frágil e pouco são reclamados enquanto tais pelas pessoas. No caso concreto da sociedade portuguesa, o distanciamento dos cidadãos relativamente ao poder político, associado a baixos níveis de aspiração de carácter social, constitui, segundo Pedro Hespanha, a principal causa da desmotivação cívica e do deficitário exercício da cidadania (Hespanha, 1999: 71-72).
Por outro lado, os níveis de literacia identificados em Portugal são baixos. Das suas consequências, nos planos individual e colectivo, nos dá conta Natacha Amaro num recente trabalho intitulado “Literacia em Portugal”, onde constata que a décalage existente entre os excluídos e marginalizados e a restante sociedade é potenciada pelas diferentes competências nos domínios literário, científico e matemático (Amaro, 2004). Para depois dizer, citando David Harman, que a importância da
literacia se revela sobretudo no acesso a uma autonomia mais profunda, que é a da liberdade e dos valores democráticos, a da preservação da memória e história humanas, a da capacidade de indagar e aprofundar o conhecimento, a da invenção e inovação, a da troca de pensamentos e ideias através do espaço e do tempo (…) a da promoção das condições para um livre exercício da cidadania (2004: 45).
Por tudo isto, toma crescente justificação a chamada “educação para a cidadania”, sucedânea do que já foi / é chamado de “educação moral e cívica”, “educação para os valores”, “desenvolvimento pessoal e social”, (…). É para comportar esta ideia de educação para a cidadania que hoje se exige à escola que se constitua em espaço de saber e reflexão, mas também em espaço de descodificação e interpelação critica das mensagens culturais, políticas, artísticas, científicas, consumistas, (…) com que a vida em sociedade nos confronta diariamente. Escola que, desde os primeiros anos, deve ter preocupação ao nível da construção de um conhecimento emancipatório, de competências básicas para a vida, de liberdade, de responsabilidade e de reversibilidade entre direitos e deveres (Veiga, 2004).
Tais preocupações encontram-se plasmadas nos normativos legais e nos documentos orientadores da nova conceptualização curricular do ensino básico, onde se identificam mesmo alguns temas transversais a abordar numa lógica de transcurricularidade (direitos humanos, ambiente, saúde, bem-estar, (…). De facto, quer o Documento “Organização Curricular e Programas – 1.º CEB” (ME, 1998), quer o mais recente texto “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais” (ME, 2001) consagram essa lógica (da transcurricularidade), aliás já vertida nos pressupostos da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986. Em todos eles se apela, apesar da diversidade de formulações, a que o ensino básico, que se quer para todos, cumpra a sua missão educativa numa perspectiva de cidadania e democracia activas.
E quando o “Documento das Competências Essenciais” enuncia as competências específicas para as diversas áreas disciplinares numa lógica de transcurricularidade, refere explicitamente que (…) ao estudarem Ciências, é importante que os alunos procurem explicações fiáveis sobre o mundo e eles próprios (…) (ME, 2001:130), para, noutro ponto, associar o papel das Ciências no ensino básico à ideia de que o mundo de hoje requer (…)
indivíduos com educação abrangente em diversas áreas, que demonstrem flexibilidade, capacidade de comunicação e capacidade de aprender ao longo da vida (…), o que não será conseguido com (…) um ensino em que as Ciências são apresentadas de forma compartimentada, com conteúdos desligados da realidade, sem uma verdadeira dimensão global e integrada
(ME, 2001:129).
Quanto a isso, há hoje muitos exemplos de como a organização de programas de Ciências de orientação CTS, em torno de temas pertinentes, é uma via promissora para ensinar menos para ensinar melhor (Martins, 2002:86), tendo por referência os três grandes desígnios da educação científica em ambiente escolar, que Isabel Martins assim define: i) educar em Ciência (trata-se de um conhecimento substantivo, com valor intrínseco,
o qual, embora fundamental, não é o bastante para interpretar o mundo na sua complexidade); ii) educar sobre Ciência (…) procura-se que o aluno compreenda como se distingue conhecimento científico de outras formas de pensar, e como se acede ao conhecimento científico e tecnológico (…) a ênfase é colocada no desenho dos processos metodológicos de questionamento, de experimentação e de validade das conclusões alcançadas); iii) educar pela Ciência (…) dimensão formativa do aluno como ser social que importa desenvolver (…) que mais contribui para o exercício da cidadania, ao promover a aprendizagem da autonomia, da participação e da cooperação) (Martins, 2004: 40-41). Ou então, como diz Manuel Miguéns: i) educar em Ciência (cuida dos aspectos internos da própria disciplina científica, da sua estrutura conceptual, dos factos, princípios e teorias que lhe dão corpo, ou dos seus métodos e processos); ii) educar sobre Ciência (visa o estudo e a compreensão do empreendimento humano que é a Ciência e as suas aplicações tecnológicas); iii) educar pela Ciência (visa promover os aspectos formativos, educativos da própria Ciência, preocupa-se com a cultura científica e com os fins da Ciência e medeia a Ciência até ao homem comum) (Miguéns et al., 1996: 22).
A múltipla função do ensino das ciências em contexto escolar é bem sintetizada por Martins (2002), quando refere que ela deverá fornecer ao aluno as bases para aceder a mais conhecimento científico (por via escolar ou não) e tornar-se um cidadão esclarecido e informado para a tomada de decisões. Como tal, o papel da escola na promoção da literacia científica das crianças e jovens exige que nela se desenvolva o ensino inteligente das ciências, ou seja, que atenda não só a um corpo de conhecimentos, de que fazem parte muitos conceitos contra-intuitivos, mas também contribua para a formação da mentalidade problematizadora e da atitude crítica próprias de um espírito científico.
É inequívoco que o crescimento (ainda que nem sempre signifique desenvolvimento) científico e tecnológico que marcou o séc. XX trouxe mais conforto, mais bem-estar, mais oferta, mais progresso na comunicação, na saúde, …, o que, naturalmente, alterou hábitos de vida, de consumo e até de lazer das populações. Tudo isto se repercutiu na preocupação internacional em aumentar as competências de literacia científico-tecnológica dos indivíduos e em procurar vias para as promover, desempenhando aí a escola um papel primordial, sob a forma propedêutica, democrática, funcional, sedutora, útil, pessoal e cultural (Martins et al., 2004: 44, citando Acevedo et al., 2003 e Acevedo, 2004).
Qualquer que seja a forma, certo é que o conhecimento científico e tecnológico constitui parte integrante da nossa cultura e, como tal, é indispensável para permitir que cada indivíduo possa ter uma participação social esclarecida, argumentativa e reivindicativa.
Contudo, e apesar de a apreciação dos vários normativos legais e documentos orientadores mostrar, segundo António Cachapuz, que as competências e princípios de reconceptualização curricular definidos ao nível do ensino básico convergem com os identificados noutros países (transversabilidade, flexibilidade, diferenciação, mobilidade e internacionalização) (Cachapuz, 2004), a questão que se coloca é em que medida a organização do sistema educativo e do sub–sistema da formação de professores, a estrutura e gestão do currículo, a concepção de escola, a investigação educacional, as práticas educativas e os manuais escolares, que tão acentuadamente as suportam, dão eco dessas orientações e se sentem com elas comprometidos.
São muitos os obstáculos a vencer. Desde logo, a perspectiva dominante da sobrevalorização dos conteúdos científicos, quase sempre considerados como fins e não como meios para, através deles, se alcançarem metas instrucionais e sociais mais relevantes, é altamente condicionante e limitativa das próprias aprendizagens feitas na escola (Cachapuz et al., 1999). Mas podem ainda referir-se, como obstáculos objectivos, a compartimentação dos planos de estudo dos cursos de formação inicial de professores e a fraca preparação destes para abordarem temas de cariz societal (Kallery, 2004; Martins, 2000; Newton e Newton, 2001). Ou a falta de motivação dos alunos, muitas vezes associada a um desfasamento dos programas escolares com a sociedade contemporânea (Martins e Veiga, 1999). Ou ainda a desadequação dos manuais escolares, que suportam, em muito, o que os professores fazem em sala de aula (Campos, 1996; Figueiroa, 2003; Leite, 1999; Marques, 2005; Teixeira et al., 1999; Valadares, 1999).
De qualquer forma, o papel das Ciências no ensino básico está inevitavelmente comprometido com a ideia de que a educação abrangente, hoje requerida para qualquer indivíduo, não será conseguida com conteúdos compartimentados, desligados da realidade e sem uma verdadeira dimensão integrada e global, como globais são os fenómenos da sociedade do conhecimento, ou, melhor, baseada no conhecimento. Sociedade onde o sentido das transformações depende em grande parte de nós, quer pelo que fazemos, quer pelo que deixamos de fazer. Sociedade onde a Educação em Ciência se situa, como refere Cachapuz et al. (2002:22), na interacção sistémica de três contextos de realização, eles mesmos polifacetados: o contexto sócio/político/económico, o contexto científico/tecnológico e o contexto de educação/formação.
Enunciada de forma curta e, como tal, incompleta, a grande meta da Educação em Ciência na escola para todos é contribuir para a formação de cidadãos cientificamente mais cultos, o que implica promover a compreensão da relação CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente) e
o desenvolvimento de competências para resolver problemas, gerir conflitos, tomar decisões e fazer escolhas conscientes. Contudo, esses objectivos só serão conseguidos se suportados em conhecimento conceptual e na compreensão da natureza, métodos e evolução da própria Ciência.
A actuação responsável perante problemas de cariz científico-tecnológico exige informação credível e actualizada, pois só ela permite que se analisem riscos, se decida, se assumam alguns desses riscos e se aceite a possível falibilidade de decisões tomadas. Mas, para além dessa imprescindível informação, o modo como avaliamos diferentes opções e nos dispomos a assumir possíveis consequências individuais e colectivas das decisões tomadas está, inevitavelmente, imbuído de valores.
Ora, estes valores e normas que cada um de nós constrói em interacção com o meio envolvente, e a que Vítor Oliveira chama de “construtivismo ético”, entram muitas vezes em conflito quando a problemática da responsabilidade social está em causa (Oliveira, 1994).
Por isso, em Ciência, os valores devem desenvolver-se como processo e não como dogma, sendo que o grande princípio norteador de toda a actividade científica é a procura da verdade, feita com liberdade de pensamento, possibilidade de discordância, independência, tolerância, dignidade (respeito por si próprio) e justiça (respeito pelos outros) (Pereira e Gonçalves, 1991).
Em suma, podemos dizer que à Educação em Ciência para todos incumbe, como objectivo primordial, a demanda de um horizonte de inteligibilidade e, como tal, ordenado e explicativo, dos fenómenos do mundo físico, humano e social, ainda que sem se abrir mão do desenvolvimento da observação cuidada e da experimentação orientada sobre a realidade tal como ela é.
O aprofundamento das diversas dimensões da Educação em Ciência variará, necessariamente, com os níveis de ensino e a idade dos alunos, pelo que têm de ser sensatamente pesadas conforme está em causa a formação de futuros especialistas ou a formação científico-tecnológica para todos. Esta última, a que a escolaridade obrigatória se reporta, deve ser centrada no desenvolvimento pessoal e social das crianças, numa lógica de exercício e construção de cidadania responsável e equilibrada, através da abordagem de temas transdisciplinares em que múltiplas situações–problema emergem.
Aliás, cresce o número de investigadores e educadores que advogam uma orientação mais humanista no ensino das ciências, entendida no sentido de permitir aos alunos a compreensão de fenómenos de cariz científico-tecnológico que lhes digam mais ou menos directamente respeito e que tenham relevância social. Tal perspectiva implica, necessariamente, alterações nas finalidades do processo educativo em ciências, nos papéis dos alunos e do professor, nos temas estudados e nas suas abordagens didáctico-pedagógicas.
Assim, analisam-se aqui algumas razões que fazem da Saúde, do Ambiente e do Consumo, enquanto temas transversais de cariz societal, um veículo privilegiado para que a Educação em Ciência no ensino básico ajude a pugnar pelo universalismo ético, pelo esbatimento do relativismo moral, pelo compromisso com certos princípios em detrimento de outros, pela defesa de direitos fundamentais e pelo desenvolvimento construtivista de pensamentos e acções que emanam dos ideais de uma sociedade mais justa e de uma melhor qualidade de vida para todos.
São temas onde se espelham várias preocupações incorporadas no currículo do ensino básico, orientadas para a descentração intelectual (aceitar e defender pontos de vista diferentes dos nossos), para a descentração moral (reconhecer a igualdade de legitimidade dos nossos direitos e dos dos outros), e para a descentração ecológica (respeitar a Natureza, promover a saúde e perceber o funcionamento da sociedade de consumo em que vivemos, quer porque cada um de nós é vítima potencial da sua própria auto – destruição, quer ainda porque é necessário educar para que todos respondamos não apenas pelas nossas intenções ou pelos nossos
princípios, mas também, na medida em que possamos prevê-las, pelas consequências dos nossos actos) (Lourenço, 1997; Sponville, 1995:38).
Questões ambientais, de consumo e de saúde pública, que Pedro Rocha dos Reis engloba nos “assuntos controversos”, encerram potencialidades na motivação dos alunos e na promoção do pensamento, revelando-se extremamente úteis na construção e desenvolvimento de um estilo de ensino pautado pela reflexão e pela avaliação crítica do impacte dos vários conteúdos científicos na sociedade. São temas que, por controversos, favorecem a formulação e a avaliação/reformulação de opiniões e crenças, a descoberta de eventuais inconsistências lógicas, a fundamentação de convicções, o esclarecimento de dúvidas, o poder de argumentação, o trabalho cooperativo, e a construção de conhecimentos úteis para a vida (Reis, 1999).
Aliás, são vários os autores que defendem a abordagem de assuntos controversos no âmbito da Educação em Ciência, por considerarem ainda que podem proporcionar aos alunos uma imagem mais realista da Ciência, quer pela via do confronto com as limitações desta, quer pela análise das suas implicações sociais, económicas e éticas (Gardner, 1983; DeDecker, 1987).
São temas que permitem desconstruir a ideia de Ciência como um corpo acabado de conhecimento que representa a verdade absoluta e que facilitam a ideia de Ciência como um processo de construção de conhecimentos e interpretações do mundo, em que existem fases de avanços e de recuos, de Ciência normal e revolucionária (Kuhn, 1971), de Ciência estável e fluida (Duschl, 1995). São temas que promovem a consciencialização de como a Ciência não é neutra nem desideologizada, nem está livre dos interesses dos cientistas, da sociedade, dos políticos e dos outros poderes. São temas que podem ainda evidenciar como muitas das teorias científicas foram aceites ou rejeitadas por motivos não científicos e, como tal, influenciadas por condicionantes sociais, políticas ou religiosas.
Enfim, são temas que permitem a construção de conhecimento que leva à compreensão dos princípios, história, filosofia e processos da Ciência e que facilitam a compreensão das implicações sociais da Ciência e da Tecnologia, bem como do modo como estas contribuem para os campos do trabalho, da cidadania, do conforto, do consumo, da saúde, do ambiente…
Por tudo isto, a Saúde, o Ambiente e o Consumo constituem-se em temas que podem contribuir para que sejam satisfeitas prioridades respeitantes a melhorias não materiais, como ter uma vivência biológica mais longa, gozando de saúde psicológica e social, como desenvolver competências que ponham saberes em acção, como ter acesso aos recursos inerentes a uma vida com direitos, e como ter oportunidades para ser mais produtivo, participativo, feliz e desenvolvido.
Desenvolvido no sentido de processo de alargamento das escolhas das pessoas ou, como diz Paul Streeten, o alargamento não apenas das escolhas entre detergentes, modelos de casa ou canais de televisão, mas das escolhas que são criadas pela expansão das capacidades e do funcionamento humano [ou seja], o que as pessoas fazem e podem fazer na vida (PNUD, 1999:17).
Só que o modelo de crescimento nas sociedades do presente caracteriza-se tanto pelo aumento da capacidade de produção de uma enorme gama de bens, como também pela produção de riscos, perigos e incertezas decorrentes da intervenção da Ciência e da Tecnologia na Natureza e nas nossas vidas. Além disso, os modos de conhecimento que estiveram na origem de problemas graves, como a degradação ambiental e as ameaças à saúde, são os mesmos que procuram encontrar respostas para esses problemas, quase que como legitimando a sua “fabricação”. Pois não é verdade que, se se geram resíduos e se degrada o ambiente, também se criam empresas para o seu tratamento?
Esta circularidade entre a criação de riscos e a mobilização em torno da sua resolução, bem patente no trinómio Saúde – Ambiente – Consumo, obriga a uma redefinição da participação dos cidadãos e, consequentemente, da sua educação, nomeadamente no que respeita à tomada de consciência de como a Ciência e a tecnologia tendem a endogeneizar, de modo reflexivo, a sua própria crítica (Nunes, 1999: 21) e à percepção de que os riscos fazem parte da experiência quotidiana que todos temos na vida moderna (Ross, 1996:3).
Por outro lado, deixaram de ser eficazes as campanhas do interdito ou do aconselhamento, deixou de haver lugar para a imposição de comportamentos e, como se não bastasse, os programas televisivos protagonizam hoje um importante papel mediador entre a cultura experimental dos alunos e os padrões descontextualizados do discurso escolar (Aires, 2000: 763).
Mas também no que respeita às necessidades e motivações suscitadas por força do contacto com as mensagens publicitárias (televisivas ou outras), considera Beja Santos que as crianças são hoje encaradas como um nicho de mercado, um prescritor cada vez mais activo nas compras familiares e também representam um mercado com enormes potencialidades futuras (Santos, 2004: 54).
Com o consumo de massas, até as guerras, os genocídios, os atentados… que invadem os noticiários e as páginas dos jornais nos tornaram insensíveis ao sofrimento alheio. Por isso o mesmo autor refere que, como essas imagens misturam acidente e catástrofe, sobressalto e indignação, é lícito dizer que estamos socializados pela necessidade de segurança face ao caos que ocorre algures (…). Consumimos o sofrimento e a violência sentados e seguros, a ver os outros a ser torturados e fuzilados. Somos consumidores e o nosso repúdio ou adesão é directamente proporcional à velocidade etérea dessas imagens: elas duram um instante, precisam de se renovar no mercado de consumo das imagens (Santos, 2004 a: 151).
Um trabalho desenvolvido por Medina e López (2004) sobre anúncios publicitários de bebidas alcoólicas, particularmente no que respeita à imagem que transmitem da mulher, à simbologia das cores, à iconicidade das imagens e aos slogans, conclui pela necessidade de uma educação para a imagem desde cedo na escola. Dado que a publicidade comercial se destina sobretudo a suscitar o desejo de adquirir um produto ou recorrer a um serviço, mais do que dar a conhecer ao público a existência desse produto ou serviço, a Educação em Ciência, ainda que não só, deve favorecer o incremento de uma consciência crítica sobre as mensagens, ou seja, desenvolver a reflexão crítica sobre as múltiplas leituras das imagens que a publicidade nos transmite e sobre a sua influência na vida quotidiana de cada um e na sociedade em geral.
Em suma, ao deixar de ser suficiente demonstrar interdependências de factores e insistir em slogans, passou a ser urgente diminuir défices de cultura científica, os quais legitimam muitos dos graves atropelos ambientais e de saúde, e reduzem drasticamente as possibilidades de gerir os conflitos tantas vezes propulsores de transformações verificadas.
É por todos estes contextos que a escola básica enfrenta hoje a difícil tarefa de se constituir em espaço de reflexão fundado nas antologias do saber considerado útil e necessário, mas jamais assente na verdade, nos exclusivos, ou até, como às vezes acontece, nos silêncios. Esta noção de educação, que rompa, desde os primeiros anos de escolaridade, com a concepção de saber constituído e que faça da acção educativa também um acto de pessoalização e socialização, com vista a uma habitação mais humana do mundo – perspectiva da educação para a cidadania – suporta-se, entre outras, na ideia de que os princípios de legitimidade se multiplicam hoje de forma mais concorrente do que complementar, bem como na constatação de que se atenuaram fortemente as fronteiras entre a moral pública e a moral privada (Galichet e Manderscheid, 1996).
Retomando o trinómio Saúde, Ambiente e Consumo, enquanto temáticas cuja imbricação é profunda e inevitável no âmbito da educação para a cidadania, facilmente se perceberá porque não funciona a via da inculcação de um determinado corpo de valores nos alunos. É que o esbatimento das normatividades (de que é ilustrativo exemplo o campo da sexualidade), a tolerância do que antes não era permitido, e a compreensão resignada de discursos e comportamentos que antes provocavam indignação levam, na escola, à adopção obrigatória de uma pedagogia do conflito, que passe pela gestão sensata de normatividades contraditórias. Realce-se, contudo, que o entrecruzamento de legitimidades, que exclui a submissão a qualquer sistema único de referências normativas, não remete para uma ausência de normas, antes, sim, para a proliferação dessas legitimidades, ou seja, de normatividades concorrentes (Galichet e Manderscheid, 1996).
Mas um dos sérios problemas associados à educação para a cidadania reside no facto de esta tender a ser olhada, mesmo por muitos professores, através de um quadro conceptual de cariz comportamentalista, ou seja, com focagem num conjunto de práticas e comportamentos que importa ora promover, ora banir. A sua orientação numa perspectiva construtivista implica que se compreendam aspectos de desenvolvimento dos indivíduos, relacionados com estas práticas. Assim, se, por exemplo, uma pessoa pauta os seus hábitos por meras posições de obediência, calculismo e interesses individuais, com facilidade dirá coisas como “não fumo na escola, porque é proibido” ou “tenho de ajudar a separar os lixos na escola, porque isso conta para a nota”. Ou seja, a pessoa está a situar-se fora do sistema social.
Já para a pessoa que se situa dentro do sistema social, as questões dos direitos e dos deveres de cidadania reportam-se a normas vigentes, a estereótipos dominantes, ou à mera aceitação do que lhe é socialmente permitido. Por isso têm justificações do tipo “não digo aos meus pais que tenho relações sexuais com o meu namorado, porque eles não iriam compreender nem aceitar”, ou ainda “não quero chegar tarde às aulas, porque se não tenho falta e a professora fica com má imagem de mim”.
Quando a pessoa associa os direitos e os deveres da cidadania às noções de bem comum e de princípios éticos gerais e universais, então assume-se nem fora, nem somente dentro do sistema social, mas sim com prioridade de responsabilidade sobre as mais diversas formas de organização social, mesmo que tal reverta em sacrifício pessoal. Por isso exprime posições do tipo “devemos poupar energia, … devemos não esbanjar água, … devemos preservar a Natureza, … porque só assim garantiremos alguma qualidade de vida para nós e para as gerações futuras”.
É, naturalmente, a este último nível que defendemos a educação para a cidadania pela Ciência no ensino básico, com recurso a temas transversais como a Saúde, o Ambiente e o Consumo.
Em termos de objectivos, essa educação não se pode, contudo, orientar para o mero apregoar ou para o ensinamento cognitivo de “bons” princípios ou “boas práticas”, mas para o pôr em acção desses princípios na resolução de problemas e na adopção consciente de comportamentos com eles compatíveis.
Em termos de métodos, a consciencialização das ideias dos alunos por eles próprios, o confronto de pontos de vista plurais, a provocação perante dilemas da vida real, a percepção de direitos e deveres pessoais e colectivos, a descentração individual e a tomada de consciência do impacte das nossas acções e omissões (a nível local, nacional ou mundial) são formas possíveis de lhes proporcionar oportunidades de esclarecerem o que está em jogo quando se fala de valores, cidadania, justiça, bem-estar, qualidade de vida… e de formularem níveis estruturais de pensamento que contribuam para desejarem modificar alguns comportamentos.
Ora, a Saúde, o Ambiente e o Consumo são temas que facilitam e requerem uma metodologia que ajude cada aluno a encarar a controvérsia como algo que lhe garante o direito de formular opiniões e tomar decisões, e não como algo sobre o qual o professor vai decidir e resolver em seu lugar. É a este propósito que Rudduck (1986) refere que estes temas não podem ser abordados pela via do exercício de um “raciocínio dualista”, ou seja, na perspectiva de que o professor é um detentor do saber e das certezas em que
o aluno tende a acreditar, mas sim pela do “raciocínio relativista contextual”, onde a dúvida e a incerteza devem ser exploradas e as interpretações de uma mesma realidade devem assumir igual validade.
Nestes processos é fundamental o recurso a informações e dados diversos, de modo a não confinar o espaço de sala de aula à discussão limitada das perspectivas de alunos e professor e, muito menos, à tentação de as opiniões destes serem tomadas como as “correctas”. A reconsideração de opiniões com base noutras vivências e noutras informações ajudará à promoção da responsabilidade pelas opções de cada um, bem como à valoração de problemas éticos e sociais inerentes, por exemplo, às acções do homem nos domínios ambiental e tecnológico.
Em termos de conteúdos, estes devem fazer parte integrante dos temas referidos, revelar utilidade para o aluno e ser estruturados de modo a permitirem a compreensão das suas múltiplas influências na formulação de razões em nome das quais a sua aprendizagem se justifica.
Numa lógica de educação científica de todos (e não de simples instrução), a compreensão dos múltiplos conceitos que os temas de Saúde, Ambiente e Consumo abrangem deve ser enquadrada num leque vasto de competências, atitudes e valores que permitam aos alunos saber valorizar o papel do conhecimento numa perspectiva global de cidadania. Como diz Isabel Martins, a visão disciplinar representa uma via para aprofundamento de aspectos específicos em quadros de referência próprios, mas ao nível da ciência escolar a especialização disciplinar deve ser entendida como um contributo para uma visão interdisciplinar e transdisciplinar que a maioria dos problemas exige (Martins et al., 2004: 45).
Pensemos, então, no Ambiente, questão que atravessa a sociedade inteira, já que são permanentes os riscos que invadem a vida quotidiana: é o excesso de gás carbónico, são os recursos hídricos envenenados, é o transporte de substâncias perigosas, são as praias poluídas, são os monumentos corroídos pelas chuvas ácidas, … Enfim, de um lado temos a sofreguidão do consumo, com uma terra de ninguém pelo meio (Santos, 2004: 122), e do outro a consciência social do Estado e de alguns cidadãos a apelar a um equilíbrio a favor do bem comum.
Mas para que o pensamento ecológico possa vir a impor o primado do ambiental nos modelos de desenvolvimento, há que inflectir o pensamento social e político do consumo para um quadro de obrigações e condicionar as escolhas que no mercado surgem sob a capa da liberdade. É que pouco interessa, neste como noutros campos, haver liberdade sem solidariedade.
Pequenos exemplos do quotidiano podem, neste domínio, ilustrar como abordar na escola comportamentos de consumo responsáveis e que levem ao desenvolvimento durável. É o caso concreto dos sabonetes, dos champôs, dos dentífricos, dos desodorizantes, ou dos detergentes para máquinas de lavar louça. Mas também tudo poderá começar com gestos do quotidiano. A criança ficará certamente surpreendida quando perceber que há respostas ecológicas para evitar excessos de resíduos de embalagens e que há escolhas que podem ser pensadas. De facto, quantas delas terão tido, por exemplo, a oportunidade de tomar consciência de que, entre a escolha de um sabonete ou de um gel de banho, há que optar pelo primeiro, dado que o gel é altamente poluidor e que um sabonete de 250 gramas permite, em média, um número de utilizações idêntico a quatro embalagens de gel? (Smith, 2001).
Não poderemos aqui passar em revista a larga série de outras questões que o fenómeno da urbanização, associado aos novos ritmos quotidianos e à própria pluriactividade das mulheres e mães, trazem para a discussão, por exemplo, no âmbito de uma cultura alimentar responsável. Contudo, basta lembrarmos os alimentos supostamente enriquecidos em vitaminas e fibras, como são os iogurtes com bífidos ou “bio”, quando a opinião médica vai no sentido de que a adição de magnésio, zinco ou ferro pressupõe uma carência que, na generalidade dos casos, não existe. Ou, então, pensemos na incorporação de vitaminas e minerais em biscoitos, o que, na maioria dos casos, se revela inútil.
Atentemos, ainda, nos alimentos “light” (termo usado para designar uma redução de, pelo menos, 25% de um ou mais dos componentes calóricos) ou nos alimentos “diet” (termo que, quando presente nas embalagens, significa a exclusão total de um ou mais determinados componentes, geralmente substituídos por outros para manter o gosto ou a característica do produto, mas podendo os novos componentes ser tão ou mais calóricos que os antigos). É o caso dos chocolates “diet”, em que o açúcar é substituído por adoçantes, o que, modificando a consistência daqueles, leva a que se aumente a gordura na sua composição, de modo a manter a textura habitual do chocolate. Desta forma, o chocolate “diet” ficará com valores calóricos equivalentes ao normal, ainda que com ausência de açúcar. A este propósito, um estudo recente desenvolvido por Rosa Codeço, com alunos do 3.º CEB, mostra que a maioria deles já tinha conhecimento da existência destes produtos pela televisão, jornais, revistas e cartazes publicitários. Contudo, era muito baixa a percentagem dos que haviam abordado este assunto com os professores em contexto escolar (Codeço, 2004).
Estes exemplos, tirados de entre muitos possíveis, traduzem só uma das mais recentes ofensivas da poderosa indústria que dá pelo nome de “alimentos funcionais” e que se destina a vender produtos a populações-alvo bem identificadas, como são os desportistas, os jovens, os idosos, … Muitos outros poderiam ser dados na indústria do “medicamento”, das “baixas calorias”, das “novas tecnologias na alimentação”, …
Mas mesmo quando nos reportamos à alimentação dita normal, o acto de comer, que é algo que diariamente fazemos como necessidade biológica, constitui igualmente um acto social e de convivência, um sinal de identidade cultural, onde podem emergir também questões criadas por padrões sociais e com implicações para a saúde (anorexia, obesidade, bulimia, diabetes, doenças cardiovasculares…). Outros conceitos aí integrados (conservação e armazenamento de alimentos, higiene pessoal e alimentar, leitura de rótulos, prazos de validade…) passam a ter não só valor intrínseco, mas, sobretudo, a permitir que os alunos tomem maior e melhor consciência das suas implicações na interrelação Consumo-Saúde-Ambiente e nas suas próprias vidas.
Se elegermos a Saúde como tema central, a abordagem não pode limitar-se à perspectiva de ausência de doenças, privilegiando a informação sobre as suas causas, características e consequências. Para Margarida Matos, a educação para a saúde tem, antes, de ser entendida como um processo de capacitação, participação e responsabilização que consiga potenciar a percepção individual de competência, felicidade pessoal e valor próprio, quando a escolha é adoptar e manter estilos de vida saudável (Matos, 2004: 461). Exige, por isso, que se abordem situações com repercussão no quotidiano das crianças e dos jovens, nomeadamente tornando acessíveis cenários e contextos promotores de saúde.
Mesmo o estudo do corpo impõe a necessidade de pensar o seu interior, aquele espaço que contem vísceras quando o abrimos, mas que é
também o lugar onde se geram as doenças psicossomáticas
(Gil, 1997: 176).
Daí que a saúde, ao contrário da velha definição que a encarava, no dizer de Laura Santos, como a vida no silêncio dos órgãos, contenha em si uma polissemia crescente situada num terreno de interdisciplinaridade (Santos, 2002: 119).
São hoje muitas as definições de saúde, mas em todas elas se encontram reminiscências da conhecida definição adoptada pela Organização Mundial de Saúde de “um estado de completo bem-estar físico, mental e social”. Contudo, a crescente consciencialização do impacte de comportamentos individuais e de desequilíbrios económicos e ambientais na preservação da saúde, bem como a imprescindibilidade que nos vai sendo imposta de (con)vivermos com o risco, levaram, por um lado, ao alargamento daquela interacção bio-psico-social e, por outro lado, a ter de se equacionar o equilíbrio entre estratégias preventivas e estratégias de promoção de competências pessoais e sociais que permitam aos indivíduos, em certos casos, o convívio com factores de risco, sem que se deixem prejudicar a nível individual (Matos, 2004: 459).
Aliás, o próprio conceito de educação para a saúde é já questionado por alguns investigadores, como é o caso de Laura Santos, que, no seu livro “Alteridades feridas”, invoca o carácter ambíguo desse conceito, pelo facto de “uma educação para a saúde” poder ter em si conotações prometeicas e “normalizadoras”, como se a doença e o mal-estar devessem ser sempre encarados como uma derrota pessoal e social, em virtude da exigência de nos mantermos também sempre jovens, saudáveis e aptos para o trabalho por mais estupidificante que ele seja (Santos, 2002: 120). Como exemplo deste pensamento diz a autora que, nas sociedades ocidentais, já nem os mortos podem ter aspecto de tal, pelo que se recorre, muitas vezes, à maquilhagem dos cadáveres. E quanto aos vivos, cresce a necessidade de se ocultarem os sinais de envelhecimento, não só nas mulheres, como também nos homens.
Laura Santos considera mesmo que há muitos desafios no âmbito da saúde em relação aos quais não se pode sair vitorioso, por nos sabermos antecipadamente derrotados, ou, no mínimo, com possibilidade de o sermos. Refere-se, em particular, aos tantos territórios que ainda precisam de ser pensados ou melhor pensados, como é o caso dos muitos textos bíblicos que “fazem mal à saúde das mulheres” (Génesis 3: 16; Novo Testamento, Efésios 5: 21-24; …), ou do modo como as igrejas vão falando do papel das mulheres, do divórcio e da contracepção, ou ainda, genericamente, do grande texto escrito e inscrito no mundo dos “corpos habitados” por um inconsciente androcêntrico, apesar de supostamente “neutro”.
Por tudo isto, ainda que não querendo abandonar a esperança, a autora pretende alertar para as particularidades que o conceito de educação para a saúde encerra no domínio do bio-psico-social.
Em suma, a abordagem da Saúde, Ambiente e Consumo na lógica da educação para a cidadania requer opções metodológicas que estão longe de se situar ao nível da retórica discursiva sobre a ementa das “boas acções”, para que ela seja o que deve ser – uma questão de escolha e decisão de cada um, norteadas por um pensamento de interpelação crítica. Escolha e decisão assentes, por um lado (como noutro momento já aqui referimos), na descentração intelectual, moral e ecológica, mas que também mobilize conhecimento conceptual.
Por isso é que exige reflexão a tão propagada e aceite ideia de que os aspectos conceptuais, procedimentais e atitudinais de temas transversais como os referidos constituem linhas que cruzam todas as áreas de qualquer organização curricular e, em particular, do 1.º CEB. Embora nas diversas áreas possam e devam existir momentos que favoreçam a possibilidade de abordagem daqueles temas, não pode aceitar-se que haja quem suponha ser possível desenvolver conteúdos atitudinais desligados dos conceptuais, a menos que o consigam pela via da tal retórica discursiva sobre as boas acções ou os interditos. Assim, de pouco servirá, por exemplo, fomentar nos alunos, em fase sexualmente activa, a convicção de que a gravidez deve ser desejada, planeada e consequência de um acto de amor, se eles não conhecerem o ciclo menstrual da mulher e não perceberem como é que a gravidez se concretiza.
Sem pretender pôr em causa a importância da existência de espaços de transversalidade curricular, nem todas as disciplinas/áreas e respectivos professores estão, para cada tema, em igualdade de condições na sua abordagem. É preciso que cada área eleja o contributo a dar na base do que constitui conhecimento que lhe é inerente.
As próprias estratégias didácticas dos professores variam com a matéria específica em causa, comportando esta tradições e crenças pedagógicas sobre a melhor forma de a ensinar e de a aprender. Ou seja, para lá do exigido conhecimento da matéria e do conhecimento psicopedagógico geral, os professores desenvolvem um conhecimento específico sobre a forma de ensinar essa matéria, que Shulman (1993) designa por “conhecimento didáctico do conteúdo” e que inclui, por exemplo, o conhecimento conceptual dos tópicos, as analogias, explicações e exemplos mais “poderosos”, as concepções prévias mais abundantes, e as formas de representar e formular a matéria, de modo a torná-la compreensível aos outros.
Radicando a Ciência num processo contínuo de construção, desconstrução e reconstrução, não se pode resvalar para a ideia de que tudo se equivale, já que, como bem humoradamente observa Bento Caraça, citado por Barata-Moura (2001: 43), há um limite para a liberdade de linguagem em Ciência, como há um limite para a desafinação em Música.
O importante é saber lidar com as diferenças, transformando-as, através de um trabalho de articulação, em ganho de capacidade dos alunos para intervirem em processos sociais marcados pela contingência. Essa articulação, no amplo sentido das relações entre o “cultural”, o “social” e o “natural” será, então, uma articulação de saberes, de ecologias de práticas e de mundos socais (Nunes, 1999), que visa o desenvolvimento, nos alunos, da reflexividade, de práticas sociais e intelectuais informadas, e de intervenções de sentido emancipatório (Veiga, 2004).
Ou seja, a abordagem de temas intertransversais e transcurriculares, como a Saúde, o Ambiente e o Consumo, faz todo o sentido desde que entendidos como núcleos de experiências e conhecimentos, dotados de grande funcionalidade prática, psicológica e social, por reflectirem problemas reais dentro da cultura em que têm significado (Yus, 2000).
Aprender não pode resumir-se a conhecer respostas, a estudar ou a provar, a procurar e encontrar o que os outros já sabem. Aprender á algo que faz parte da vida das pessoas e, como tal, centra-se nos desafios que a cada uma se colocam e que só podem ser resolvidos de forma particular. A teoria implícita neste processo de aprendizagem é a “aprendizagem situada”, considerada como paradigma alternativo ao do processamento de informação, cujas marcas principais são assim definidas por Saez e Riquarts (1996): i) a cognição envolve uma “conversação” do indivíduo com as situações; ii) o conhecimento implica uma relação de acção prática entre a mente e o mundo; iii) a aprendizagem envolve um exercício cognitivo na realização de actividades múltiplas, algumas delas colaborativas. É, aliás, com estes argumentos que os mesmos autores defendem que um currículo de ciências no ensino básico não pode apresentar a relevância dos temas a abordar em função só da própria disciplina científica, pois eles devem também possibilitar aos alunos o contacto com problemas relevantes na perspectiva CTS, de modo a apreciarem o seu impacte em função de um desejável desenvolvimento sustentável.
Para concluir e usando palavras de quem já o disse antes de nós, reiteramos a ideia de que urge fazer surgir uma nova cultura científica, assente numa ética de co-responsabilidade, numa ética de partilha e solidariedade, numa ética de preocupação por nós, pelos outros e pela Natureza, e numa ética de autocontenção no respeito pelos recursos não infinitamente renováveis (Silva, 1999). Se falharmos a responsabilidade que hoje nos compete quanto ao futuro da humanidade, os homens e mulheres de amanhã terão o direito de nos acusar enquanto (co)-autores da sua infelicidade, se, pelo nosso agir despreocupado e que poderia ter sido evitado, lhes tivermos deteriorado o mundo ou a constituição humana (Jonas, 1990: 186).
Contrariando a profecia de Lipovetsky (1994: 11) de que já ninguém parece acreditar nas manhãs radiosas da revolução e do progresso (…), já nenhuma grande ideologia política é capaz de inflamar multidões (…), doravante o que se quer é viver já, aqui e agora, ser-se jovem em vez de construir o homem novo, continuamos a partilhar o pensamento de Bento Caraça de que as ilusões nunca são perdidas. Elas significam o que há de melhor na vida dos homens e dos povos (Caraça, 1995: 18).
Por isso, mantemos a crença de que a Educação em Ciência pode contribuir para que cada um queira mais e melhor fazer o que pode fazer!
Referências Bibliográficas
AIRES, M. L. (2000). Vozes sobre a televisão no âmbito da educação de pessoas adultas: uma abordagem sociocultural. Lisboa: Universidade Aberta (Tese de Doutoramento não publicada).
AMARO, N. (2004). Literacia em Portugal. Vértice, 120, 39-46.
BARATA-MOURA, J. (2001). Linhas de rumo do pensamento de Bento Caraça. Vértice, 101, 33-62. CACHAPUZ, A. (2004). Relatório do Estudo Saberes Básicos de todos os Cidadãos no séc.
XXI. In: Conselho Nacional de Educação (Org.), Saberes Básicos de todos os Cidadãos no séc. XXI. Lisboa: ME/Conselho Nacional de Educação.
CACHAPUZ, A; PRAIA, J.; PAIXÃO, F. E MARTINS, I. (1999). Uma visão sobre
o ensino das Ciências no pós-mudança conceptual: contributos para a formação de professores. Inovação, 13 (2/3), 117-137.
CACHAPUZ, A.; PRAIA, J. E JORGE, M. (2002). Ciência, Educação em Ciência e Ensino das Ciências. Lisboa: Instituto de Inovação educacional.
CAMPOS, C. A. C. (1996). Imagens de Ciência veiculadas por manuais escolares de Química do Ensino Secundário – Implicações na formação de professores de Física e Química. Aveiro: Universidade de Aveiro (Dissertação de Mestrado não publicada).
CARAÇA, B. J. (1995). A cultura integral do indivíduo. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa.
CODEÇO, R. (2004). Concepções, crenças e hábitos de consumo de uma comunidade escolar relativamente aos produtos “light”. Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, Julho – Setembro, 23-28.
COELHO, A. B. (2001). BENTO DE JESUS CARAÇA. Vértice, 101, 8-16.
DEDECKER, P. F. (1987). Teaching biological decision making in school: a lesson plan. The American Biology Teacher, 49, 428-432.
DUSCHL, R. (1995). Más allá del conocimiento: los desafíos epistemológicos y sociales de la enseñanza mediante el cambio conceptual. Enseñanza de las Ciencias, 13(1), 3-14.
FIGUEIROA, A. (2003). Uma análise das actividades laboratoriais incluídas em manuais escolares de Ciências da Natureza (5.º ano) e das concepções dos seus autores. Revista Portuguesa de Educação, 16(1), 193-230.
GALICHET, F. E MANDERSCHEID, J. C. (1996). L’éducation à la santé et la construction de l’identité dans le contexte des sociétés occidentales contemporaines. Revue Française de Pedagogie, 114, 7-17.
GARDNER, P. (1983). Another look at controversial issues and the curriculum. Journal of Curriculum Studies, 16, 179-185.
GIL, J. (1997). Metamorfoses do corpo. Colecção “Antropos”, 2ª edição. Lisboa: Relógio d’Água.
GUSMÃO, M. (2001). Cultura e liberdade. Vértice, 101, 2732.
HESPANHA, P. (1999). Novas desigualdades, novas solidariedades e reforma do Estado: enquadramento do tema e síntese das comunicações. Revista Crítica de Ciências Sociais, 54, 69-78).
JONAS, H. (1990). La Principale Responsabilité. Paris: Du Cerf.
KALLERY, M. (2004). Early years teachers’ late concerns and perceived needs in science: an exploratory study. European Journal of Teacher Education, 27(2), 147-165.
KUHN, T. S. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. México: Fondo de Cultura Económica.
LEITE, L. (1999). O ensino laboratorial de “o som e a audição” – uma análise das propostas apresentadas por manuais escolares do 8.º ano de escolaridade. In: Actas do 1.º Encontro Internacional sobre Manuais Escolares. Minho: Universidade do Minho, 255-365.
LIPOVETSKY, G. (1994). O crepúsculo do dever: a ética indolor dos novos tempos democráticos. Lisboa: Dom Quixote.
LOURENÇO, O. (1997). Psicologia do desenvolvimento e educação para os valores: que valores, que educação? In: SPCE, Contributos da investigação científica para a qualidade do ensino. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, 163-170.
MARQUES, M. F. C. (2005). Educação em Ciências no 1.º CEB: contributo de professores e manuais. Aveiro: Universidade de Aveiro (Dissertação de Mestrado não publicada).
MARTINS, I. P. (2000). Intercompreensão na educação formal e não – formal em ciências – o desafio actual. Revista de Didáctica das Línguas. Santarém: ESE, 8, 9-22.
MARTINS, I. P. (2002). Educação e Educação em Ciências. Aveiro: Universidade de Aveiro.
MARTINS, I. P. (2004). Das potencialidades da Educação em Ciência nos primeiros anos aos desafios da educação global. In: Veiga, L. (Coord.), Formar para a Educação em Ciências na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico. Coimbra: Instituto Politécnico de Coimbra, 31-41.
MARTINS, I. P. e Veiga, M. L. (1999). Uma análise do currículo da escolaridade básica na perspectiva da Educação em Ciências. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.
MARTINS, I. P.; SIMÕES, M. O.; SIMÕES, T. S.; LOPES, J. M.; COSTA, J. A.; RIBEIRO-CLARO, P. (2004). Educação em Química e ensino da Química – perspectivas curriculares. Boletim da Sociedade Portuguesa de Química, 95, 42-45.
MATOS, M. (2004). Psicologia da saúde, saúde pública e saúde internacional. Análise Psicológica, 3 (XXII), 449-462.
ME (1998). Organização Curricular e Programas. 1.º ciclo do Ensino Básico. Lisboa: ME/D. Ensino Básico.
ME (2001). Currículo Nacional do Ensino. Competências Essenciais. Lisboa: ME/D. Ensino Básico.
MEDINA, M. J.; LÓPEZ, M. A. (2004). Educando para una lectura crítica de imágenes. Revista Itinerários (Instituto Superior de Ciências Educativas), Ano 6 (Julho), 181-185.
MIGUÉNS, M.; SERRA, P.; SIMÕES, H.; ROLDÃO, M. C. (1996). Dimensões formativas de disciplinas do ensino básico: Ciências da Natureza. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.
NEWTON, D. P. E NEWTON, L. D. (2001). Subject content knowledge and teacher talk in the primary science classroom. European Journal of Teacher Education, 24(3), 369-379.
NUNES, J. A. (1999). Para além das “duas culturas”: tecnociências, tecnoculturas e teoria crítica. Revista Crítica de Ciências Sociais, 52/53, 15-60.
OLIVEIRA, V. (1994). Responsabilidade social e ensino das ciências: das finalidades aos métodos. In: Actas do IV Colóquio Nacional da EIPELF/AFIRSE, “Desenvolvimento curricular e didáctica das disciplinas”. Lisboa: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, 147-156.
PEREIRA, M. H. E GONÇALVES A. M. (1991). Atitudes de alunos perante aspectos éticos da Ciência: implicações nas metodologias de ensino. In: AEPEC, Actas do I Congresso da Educação Pluridimensional e da Escola Cultural. Évora: AEPEC.
PNUD (1999). Relatório do Desenvolvimento Humano. Lisboa: Trinova.
REIS, P. R. (1999). A discussão de assuntos controversos no ensino das ciências. Inovação, 12, 107-112.
ROSS, A. (Org.) (1996). Science Wars. North Carolina: Duke University Press.
RUDDUCK, J. (1986). A strategy for handling controversial issues in the secondary school. In: Wellington, J. J., Controversial Issues in the Curriculum. Oxford: Brasil Blackwell, 6-18.
SAEZ, M. J. E RIQUARTS, K. (1996). El desarrollo sostemible y el futuro de la ensenanza de las ciencias. Ensenanza de las Ciencias, 14(2), 175-182.
SANTOS, B. (2004). Novo Mercado Novo Consumidor. Lisboa: Prefácio.
SANTOS, B. (2004a). Olhando o sofrimento dos outros (porque somos consumidores de imagens de atrocidades). Vértice, 117, 150-151.
SANTOS, B. S. (1997). Porque é tal difícil construir uma teoria crítica? Comunicação apresentada no Encontro Terra Nostra, ISA/AP, Lisboa, Nov. (doc. ocasional).
SANTOS, L. F. (2002). Alteridades feridas. Coimbra: Angelus Novus.
SHULMAN, L. S. (1993). Renewing the pedagogy of teacher education: the impact of subject – specific conceptions of teaching. In: Montero e Vez, Las didácticas específicas en la formación del profesorado. Santiago: Tórculo, 53-69.
SILVA, M. L. P. (1996). Bioética e qualidade de vida: um ponto de vista filosófico. Vértice, 74, 33-37.
SILVA, M. (1999). Novas desigualdades, novas solidariedades e reforma do Estado. Revista Crítica de Ciências Sociais, 54, 79-85.
SMITH, M. J. (2001). Manual de ecologismo – rumo a uma cidadania ecológica. Lisboa: Instituto Piaget.
SPONVILLE, C. (1995). Pequeno tratado das grandes virtudes. Lisboa: Presença.
TEIXEIRA, F.; COUCEIRO, F.; VEIGA, L. E MARTINS, I. (1999). A Educação Científica veiculada por manuais escolares de Estudo do Meio do 1.º CEB, no que respeita à reprodução humana. In: Trindade, V. (Coord.), Metodologias do Ensino das Ciências: investigação e práticas dos professores. Évora: Universidade de Évora, 277-288.
UNESCO (1997). Educatión para un futuro sostenible: una visión transdisciplinaria para una acción concertada (doc. EPD–97/CONF.402/CLD.1).
VALADARES, J. (1999). A ideologia nos manuais escolares. In: Actas do 1.º Encontro Internacional sobre Manuais Escolares. Minho: Universidade do Minho, 515-526.
VEIGA, L. (COORD.); MARTINS, I.; TEIXEIRA, F. (2004). Formar para a Educação em Ciências na educação pré-escolar e no 1.º ciclo do ensino básico. Coimbra: Instituto Politécnico de Coimbra.
Yus, R. (2000). Temas transversales y educación global: una nueva escuela para un humanismo mundialista. In: Alvarez, M. N. e Balaguer, N. (orgs.), Valores e temas transversales en el curriculum. Barcelona: Graó, 25-40.
A Engenharia Civil e o Ensino
A. Segadães Tavares ∗
Enquadramento do Ensino
Assistiu-se em Portugal, nas duas últimas décadas, a uma revolução no ensino superior. A uma população escolar que então se limitava a escassas dezenas de milhar sucedeu-se uma explosão, cifrando-se nas centenas de milhar o número de alunos que frequentam as escolas de nível superior.
A formação universitária deixou de estar reservada a elites. Mas será que continua a formar as elites de que o País necessita?
É a universidade uma organização que deverá ter como vocação o SABER, a CULTURA e a CRIAÇÃO. Foi essa a sua génese, era verdade há vinte anos, ainda hoje deverá ser verdade. É essa uma das características que a distinguem do ensino profissionalizante, herdeiro da tradição das guildas medievais.
É desejável, em qualquer país, que a maioria da sua população tenha formação universitária. Daí resultará a massa crítica que propicie o confronto de ideias que, em renovação constante, prepare o salto em frente para o progresso.
Mas não tenho a convicção de ser isso o que acontece entre nós. Numa primeira fase, a expansão do ensino dito universitário teve mais em vista outros interesses que não o nobre interesse que a ela deveria presidir, o da expansão do saber e da cultura.
Assistiu-se a uma proliferação de instituições que, sob o pretexto de um ensino de eleição, conjugava dois interesses. De um lado uma organização com interesses muitas vezes marcadamente mercantilistas, e do
∗ Universidade Nova de Lisboa
outro uma vasta população adolescente, ávida das oportunidades de carreira que um título poderia abrir. Não estavam em causa os interesses da colectividade, não foi debatido o que importava ao País. Nem estava em causa um ensino de eleição, como se veio a comprovar pelo nível de preparação dos candidatos que a essa instituições vieram a ter acesso, barrada que lhes fora a entrada nas instituições públicas.
Grande foi a responsabilidade da administração central e das universidades públicas neste processo. Não criando condições ou não tendo capacidade para responder ao afluxo crescente de candidatos, a sua resposta foi a de condicionar o acesso em vez de ampliar os seus meios, deixando de fora uma elevada percentagem de jovens de elevado potencial.
A resposta foi dada por instituições privadas, mas aí abrindo as portas não apenas aos candidatos de potencial elevado que tinham visto barrada a sua entrada nas instituições públicas mas também aos que, não tendo evidenciado nenhum potencial, tinham no entanto uma mais elevada capacidade económica. E as portas que foram sendo abertas não foram as que mais poderiam interessar ao desenvolvimento da colectividade e ao próprio perfil potencial dos candidatos mas as que correspondiam favoravelmente a critérios de rendibilidade financeira. Dava-se a viragem, no salto da instituição do saber para a do negócio possível, usando e abusando de técnicas de “marketing”, numa proliferação de designações, quantas vezes fantasiosas, designações que, elas próprias, denunciavam que se abandonava o saber abrangente por uma compartimentação limitada, contrária por natureza ao ensino universitário.
Em suma, adoptaram a postura do ensino profissionalizante, mas vestindo a roupagem do ensino universitário. E sem preocupações de maior em averiguar se as profissões tinham reflexo positivo na sociedade.
Esta postura rapidamente começou a ser seguida por novas instituições públicas emergentes, numa proliferação desenfreada de novas escolas de ensino superior, em que o objectivo camuflado muitas vezes não era uma formação profissional digna e útil, mas sim o estatuto de universidade.
O efeito de arrastamento funciona. Chegámos ao ponto em que escolas de formação profissional de grande valor, valor comprovado pelos frutos que ao longo de décadas deram ao País, pretendem agora a todo o custo abandonar essa via para se integrarem nas novas modas, com alguma legitimidade se olharmos para o panorama geral.
E qual o futuro das escolas de excelência? A massificação do ensino superior, se for pretendida uma uniformização como agora parece ser lema, conduz por um lado ao nivelamento por critérios menos exigentes e, por outro lado, tende a eliminar as escolas de formação com maior exigência, na disputa para se conseguirem alunos, já que ao seu número está associado o seu financiamento, quer em propinas quer em fundos públicos.
E, depois de uma degradação dos ensino básico e secundário, é agora a vez de atacar o ensino universitário. Reduzindo os tempos de formação e aquisição de conhecimentos, numa visão global e globalizante, estreitando ao mesmo tempo o ângulo de visão sobre a sociedade e os seus anseios e necessidades. Criando especialistas, mas que só o são na sua área específica.
Ou será que tudo isto é a forma de resolver por via administrativa e sem contestação de maior o problema de financiamento do ensino superior público, reduzindo a 3 anos a parte geral em que as propinas podem ser baixas e onerando fortemente os anos sequentes, considerados de “mestrado” ou de “doutoramento”. Em que uns e outros passam na prática a ser obrigatórios, já que os três anos da parte geral não deverão, na maioria dos casos, dar origem a saídas profissionais. E em qualquer dos casos criando-se compartimentos estanques, perdendo-se a virtude maior que o ensino universitário já teve.
Ou será que foi apenas o significado de formação universitária que evoluiu, generalizando-se para toda a formação que corresponda a mais de 12 anos de escolaridade?
Preocupações – Factos e Perplexidades
Numa perspectiva social tem a engenharia responsabilidades acrescidas para propiciar à colectividade graus de comodidade e segurança que o cidadão, vivendo numa sociedade moderna, já incorporou de tal modo no seu dia a dia que eles lhe passam despercebidos. As realizações da engenharia estão quotidianamente presentes: no edifício de apartamentos em que reside, nos sistemas de abastecimento de água e de saneamento de que se serve logo ao acordar, nos arruamentos urbanos e nas redes de estradas e de caminhos de ferro que percorre diariamente, na escola onde ensina, no hospital onde cura, na fábrica que sustenta a economia, na grande superfície comercial onde efectua as suas compras, nas pontes que ligam margens. E muito mais.
Para que possam exercer com responsabilidade as suas funções, desenvolvendo modelos, simulando as suas aplicações e tirando as conclusões que permitam fundamentar com bom senso as suas decisões, devem os profissionais de engenharia civil ter uma sólida formação de base em áreas da ciência que vão da Matemática à Física e Química, complementadas com a Mecânica dos Corpos Deformáveis, a Hidráulica, a Física dos Materiais, a Mecânica dos Solos, o Desenho Técnico e a Informática e a Gestão.
Faz parte das nossas obrigações preparar a engenharia do futuro. Com bases sólidas, com uma visão larga e deixando um campo arroteado para a germinação de novas ideias.
Fazendo uso intensivo e permanente de ferramentas matemáticas e dos princípios da física, como posso compreender que sejam abertas as portas do ensino universitário a candidatos que nem sequer atingem o medíocre no secundário? É certo que o ensino é um direito, consagrado inclusivamente na Constituição. Mas os direitos trazem consigo obrigações.
Daqui a primeira perplexidade. A que é que corresponde na realidade
o sistema de avaliação praticado no ensino secundário, que permite que as transições de ano se façam quase que automaticamente? As consequências, essas vou-as constatando anualmente, com os novos alunos que frequentam disciplinas do primeiro ano, em que em elevada percentagem denoto conhecimentos de matemática rudimentares (chegando até ao desconhecimento de como se determina a área de um círculo) e uma grande falta de compreensão da própria língua (e noto que em engenharia a linguagem não usa figuras de retórica, devendo ser clara e sem ambiguidades).
As perplexidades continuam ao longo do percurso que pretende formar novos engenheiros. A palavra “Reprovar”, banida no ensino secundário, parece que também o tende a ser no ensino universitário, com pressões para que se evitem retenções. As precedências foram desaparecendo, com consequências na construção harmónica do conhecimento.
Por último temos o “Processo de Bolonha”, cuja finalidade parece não estar claramente estabelecida, e que mais que propiciar a livre circulação de alunos (será que haverá assim tantos a transferir-se de instituição para instituição que justifique uma directiva europeia?) deveria servir para catalogar e classificar as competências dos formados, baseando-se na exigência de mínimos curriculares que permitam a mobilidade dos cidadãos e a equiparação das qualificações.
Quanto a este último aspecto, talvez valha a pena um pouco de história. Ainda não há quarenta anos, quando concluí na Universidade do Porto a licenciatura em engenharia civil, tinha o curso uma duração de 6 anos complementado com seis meses de estágios profissionais.
Eram já nessa altura três escolas americanas, o MIT, o Caltec e Berkeley consideradas como instituições de excelência nas engenharias. Um aluno da FEUP que pretendesse uma pós-graduação nestas escolas acedia directamente ao PhD, sendo dispensado do MSc (o plano curricular da licenciatura da escola portuguesa, como de resto o de muitas escolas europeias, com excepção das inglesas, era então considerado como equivalente ao de um mestrado pelas escolas americanas).
Foi este o modelo de ensino, consolidado a partir da segunda década do século passado, que permitiu o salto em frente na qualificação da engenharia civil portuguesa, confirmada pelo reconhecimento mundial que teve na segunda metade do século.
Passados estes anos usa-se a designação de licenciatura para designar
o que então corresponderia a um bacharelato, com a agravante de, no caso específico da engenharia civil, dificilmente poder corresponder a uma formação profissionalizante. Acontece que, para essas saídas profissionalizantes aceleradas, existiam já escolas específicas, os institutos politécnicos então designados por “Institutos Industriais”, com uma escolaridade de 4+5+5 ou 4+7+4 anos, e de onde saíam o que então se designava por “agentes técnicos” a quem era permitido prosseguir os estudos universitários. Parece assim que, mais que o conhecimento, o que importa é o título.
Tenho por isso fundadas reservas relativamente ao Processo de Bolonha, com a formação 3+2. Para se manter a formação em ciências de base com a profundidade desejável não sobra tempo para dedicar igual atenção às ciências aplicadas, pelo que não é possível formar profissionais em 3 anos. Poder-se-á quando muito, em certas profissões e mesmo em certas áreas da engenharia, formar técnicos intermédios.
Os institutos politécnicos, cuja função principal já foi a formação de técnicos intermédios, os engenheiros técnicos que durante o século XX tanto contributo deram à construção como excelentes directores de obra, querem passar à força a Universidades. A dignificação parece passar pelo nome da instituição e não pela qualidade do ensino, descrendo das suas capacidades e esquecendo que são essas capacidades que lhes poderão dar maior prestígio.
Em muitas escolas do ensino dito superior, e não estou a falar apenas de universidades privadas, o negócio abriu portas a alunos sem preparação básica, com classificações mais que insuficientes em física e matemática. Alunos que a seu tempo obterão o seu diploma, talvez com classificações mais elevadas que outras escolas reputadas pela qualidade do seu ensino e mais avaras nas notas.
Será que isso é mau? Para mim, em que o critério de escolha é pessoal, não me incomoda. Se precisar de jovens engenheiros sei onde ir procurá-los. Já o mesmo se não passa nos organismos públicos, em que a admissão deverá feita por concurso documental, e o critério de escolha entre dois licenciados não será a escola de origem mas o que tiver mais elevada classificação. O risco de em breves anos termos os lugares cimeiros da administração pública entregues aos mais mal preparados é pois muito grande. E serão eles a definir e impor as regras de escolha, decidindo do que não sabem.
As consequências de uma falta de estratégia já são sensíveis. Quase todos os países europeus desenvolvem “software” de engenharia, desde a nossa vizinha Espanha a países de dimensão semelhante à nossa, como a Áustria e a Holanda. Em particular desta última vem um pacote que se está a tornar quase que um “standard” em Portugal para estruturas geotécnicas, complementado com cursos de formação de utilizadores em Delft.
E nas nossas escolas de engenharia ensina-se a utilizá-los. Com todas as suas limitações e com tudo aquilo que nos limita. Estamos a ser colonizados. E, alegremente, até batemos palmas. Esquecendo que ficamos numa dependência permanente desses fornecedores de “software”, que vão produzindo novas versões que inviabilizam as anteriores. A factura virá mais tarde.
Que haja ponderação nas reformas que vão condicionar os anos futuros, e que tal não sirva apenas para viabilizar o que não tem viabilidade. Que se olhe para as reais necessidades do País, que não se criem mais falsas ilusões à juventude, o nosso melhor capital e em que, apesar de tudo e quase diria contra tudo, se têm manifestado valores promissores e de elevado potencial. Já chega de vaidades e de “Caçadores de dinossauros”.
A Ciência e a Educação em Ciências na construção de sociedades sustentáveis: bases epistemológicas e princípios de operacionalização
Mário Freitas ∗
INTRODUÇÃO
Procuraremos, de forma necessariamente sucinta, organizar as nossas reflexões em torno de quatro aspectos fundamentais: (1) Breve caracterização da tradição do pensamento científico característico do Norte/Ocidente1 e dos pressupostos que estão na base da crise epistemológica da “ciência moderna”; (2) Caracterização do que, de acordo com EDELMAN (1995), designaremos por “epistemologia biologicamente fundamentada” e suas relações com uma necessária ecologia de saberes (SANTOS, et al., 2005); (3) Diversidade de perspectivas de conceitualização da Educação/Aprendizagem/Ensino das Ciências e sugestão de uma nova sistematização; (4) Necessidade de repensar a Educação em Ciências, numa lógica de Educação para a Sustentabilidade, recorrendo, a título de exemplo, à análise de algumas implicações gerais para uma reorientação curricular, ao nível do 3.º ciclo do ensino básico, numa lógica de construção de sociedades sustentáveis.
Considerarmos que, mais do que nunca, se torna necessário reflectir sobre o que é a “nossa” ciência e que tal reflexão é absolutamente decisiva na discussão do que é e/ou deve ser a Educação em Ciências. Por outro lado,
∗ Departamento de Metodologias de Educação, Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho
1 Embora, muitas vezes, se fale do saber/conhecimento “ocidental” (por oposição a uma tradição oriental) e do “Norte” (dito “desenvolvido”) por oposição a um “Sul” (dito “não desenvolvido” ou “em vias de desenvolvimento”), pensamos que a tradição de pensamento científico a que vários autores aludem é, em boa verdade, do Ocidente e do Norte (mesmo se países do Oriente e do Sul se encontrem largamente, por ela, influenciados) e foi imposta através “de um processo longo e controverso”, transformada “em única forma de conhecimento válido”, que inclui “não só por razões epistemológicas, mas também factores económicos e políticos” (SANTOS et al., 2005, p. 21).
a discussão acerca da Educação em Ciências (mesmo quando bem sustentada, do ponto de vista epistemológico e/ou psicológico e/ou sociológico) não tem adoptado, de forma clara, uma teorização de vocação claramente interdisciplinar, nem tem incluído algumas das mais recentes evidências científicas, nomeadamente no domínio da biologia e das neurociências. Assim, por opção de partida, daremos maior realce aos três primeiros tópicos, devendo o quarto tópico ser somente encarado como uma breve exemplificação.
Finalmente, o repensar da Educação/Aprendizagem das Ciências deve ser feito no quadro mais geral do repensar da Educação/Aprendizagem do futuro. A declaração pelas Nações Unidas, da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, coloca à educação em geral, e à Educação em Ciências em particular, desafios que, em nossa opinião, só num tal quadro de análise podem ser convenientemente equacionados.
1. Acerca das tradições do pensamento científico norte-ocidental
Como afirmam MATURANA & VARELA (1990, p. 233), “quando se tem uma linguagem, não há limites para o que é possível descrever, imaginar, relacionar”. Assim, a linguagem é, por essência, a possibilidade de gerar múltiplos significados, tanto a propósito de factos e processos reais, como de ideias abstractas.
Mas, para além disso, por razões que se tornarão mais claras à medida que formos avançando, os termos conhecimento e/ou saber e ciência são particularmente polissémicos. Atente-se, por exemplo, na própria utilização institucionalizada da designação “educação em ciências” que, em boa verdade, significa “educação em ciências físico-naturais”. Esta designação não parece incluir a educação em história, geografia, ou em outras ciências “humanas e sociais” e, muito menos, a educação “em línguas”. E, quando se fala de ciência, ora se está a falar de todas as ciências ou domínios do conhecimento científico, ora se está a falar das chamadas “ciências duras”, física-química, em particular2. Na base desta pluralidade semântica estão, entre outras, como veremos, razões epistemológicas relacionadas com a natureza do conhecimento científico e razões relacionadas com o valor relativo dos diversos domínios científicos3. Não existe, assim, um conceito único de conhecimento e/ou saber, nem um conceito unificado de ciência. Praticamente coincidentes no passado4, os termos ciência e conhecimento experimentaram, nomeadamente, a partir do século XVII, um significativo afastamento (MATURANA, 1995) para, neste advento do século XXI, estarem a viver momentos que anunciam uma nova reconciliação.
Na pureza etimológica do seu significado, existe “ciência” praticamente desde o aparecimento do Homem na Terra, já que todas as sociedades humanas desenvolveram, ao longo da sua história, modos de conhecimento e de actuação sobre a realidade que foram e são a base experimental da sua sobrevivência5. Ao mesmo tempo, também desde muito cedo, que o Homem, para além do assegurar prático da sua sobrevivência, começou a preocupar-se com a criação de representações simbólicas do mundo, de que os mitos são, talvez, os primeiros e mais interessantes exemplos. Coexistindo com os mitos, é possível identificar, em grandes civilizações da Antiguidade, o desenvolvimento de importantes áreas de conhecimento, como por exemplo, a matemática, a geometria e a astronomia. E, embora frequentemente se afirme que tais conhecimentos estariam ainda, nessas épocas, bastante amarrados a uma intenção
2 O sentido em que se está a falar é, na generalidade dos casos, determinado por factores que vão desde um certo consenso entre a comunidade que está reunida, até ao entendimento individual de cada participante, passando por interpretações que se circunscrevem a um certo contexto que, num certo momento, está a ser abordado ou à clarificação, por parte de quem fala, do sentido que está a querer dar aos termos.
3 Será aqui de referir como, pelo menos em certos eventos (seminários, congressos, etc.), e mesmo na organização curricular e na formação de professores, a “educação em ciências” se associa, muitas vezes, à “educação matemática”.
4 Ciência vem do latim “scientia”, que significa conhecimento, saber. 5 Atente-se aos utensílios e armas primitivas da Idade da Pedra, as pinturas e esculturas que desses tempos remotos ainda restam… ou a pioneira invenção da roda.
essencialmente prática6 – sendo impossível, como tal, associá-los a uma actividade de especulação intelectual pura7 – não nos parece que (mesmo que tal acontecesse, o que é discutível) devam por isso deixar de merecer o nome de scientia.
1.1. A “Ciência Aristotélica” e a “Ciência Escolástica”
O que podemos considerar uma certa tradição hegemónica de conhecimento científico do Ocidente e do Norte iniciou-se na antiga Grécia. Nos séculos V e VI a.C., nomes como os de Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Heraclito, Anaxágoras, Hipócrates e Demócrito são expoentes daquilo que muitos consideram os alvores do pensamento científico moderno, já que “nos trabalhos dos filósofos e naturalistas gregos encontramos todos os temas filosóficos e epistemológicos que são o fundamento da nossa ciência moderna” (MONTALENTI, 1983, p.25). Platão e, particularmente, o seu discípulo Aristóteles culminaram e puseram fim a este impressionante movimento intelectual, protocientífico da Grécia antiga e, como tal, a uma esboçada polémica entre “dois pólos opostos da interpretação dos fenómenos naturais” (MONTALENTI, 1983, p. 26): o naturalismo atomista, causal e protomecanicista, de Demócrito, e a metafísica holísta, teleológica e vitalista, de Platão e Aristóteles.
Assim, a “ciência aristotélica” é, em boa verdade, o resultado emergente de dois tipos de confronto (FREITAS, 1999): a) entre um “naturalismo” atomista, causal e protomecanicista e uma “metafísica” holista, basicamente teleológica e vitalista, de vocação mais matematizada (platónica) ou mais “experiencial”, do senso comum (aristotélica); b) entre as duas formas de metafísica citadas, a de Platão ontológica e
6 “Nas primeiras civilizações tanto as matemáticas como as ciências não eram mais que
uma ferramenta para desempenhar determinadas funções” (Lexicoteca, tomo I, Círculo de
Leitores, 1990, p.23). 7 “As deduções babilónicas e egípcias no âmbito da geometria serviram para solucionar
problemas práticos. Os gregos foram os primeiros a propor questões matemáticas pelo
mero prazer de pensar sobre elas” (CAPRETTINI et al., 1987, p. 25).
gnosologicamente dualista e a de Aristóteles tendencialmente monista (pelo menos do ponto de vista ontológico).
Durante a Idade Média, assistiu-se a um confronto entre perspectivas neo-platónicas e perspectivas neo-aristotélicas (RADL, 1988), que culminou com triunfo destas últimas, sob uma forma algo deturpada que, convencionalmente, se designa por “ciência escolástica”. O cristianismo, “ideal cultural” da Europa nessa época, adquiriu um forte poder temporal. e a scientia andou sempre “de mão dada”, não só com a filosofia, mas também com a religião. A Igreja definia e legitimava como divina uma clara fronteira entre os “profanos” ou “práticos” (desde os “pastores” às “bruxas”) e os “profissionais” ou “especialistas”, “doutores”, nomeadamente “clérigos” (RADL, 1988a)8. A divinização da ciência aristotélica, através do movimento escolástico da Idade Média, assumiu-se como profundamente conservadora. Sacralizando certos postulados metafísicos gerais da visão aristotélica do mundo, impediu que a sua parte empírica progredisse e, eventualmente, contrariasse esses mesmos postulados. Perspectivas de carácter mais mecanicista foram rapidamente esmagadas pela argumentação ou pela repressão9.
Com os “descobrimentos” e as cruzadas (para espalhar a fé cristã) começou, progressivamente, a impor-se aquilo que SANTOS (1998) designa por epistemicídio10. À custa de processos violentos, com base numa religião, que a si própria se outorgou de superior, a Europa procedeu à imposição hegemónica da sua forma de ver o mundo. E, como vamos ver, embora a ciência escolástica divinizada venha a ser derrotada, nos séculos XVI/XVII, pela chamada “ciência moderna”, deste ponto de vista, assistirse-á, somente, à substituição e alargamento da base e razão dos processo de
8 Apesar do domínio quase absoluto da escolástica, ao lado da “ciência universitária
organizada”, que é o mesmo que dizer da “Igreja docente”, sempre existiu um
conhecimento prático, empírico, “profano” da natureza (RADL, 1988a, p. 37). Tal
ciência profana era, segundo o mesmo autor, “muito simples, ingénua, supersticiosa, (...)
sem nenhuma teoria intelectual, mas prática, (...) e extraída directamente da vida” que
constituía “uma antítese da seca ciência dos escolásticos” (p. 39). 9 Basta relembrar o sinistro papel da Inquisição. 10 Ou seja, a morte de conhecimentos locais perpetrados por um saber alienígena.
imposição hegemónica de uma certa forma de interpretar o mundo e conceber a acção humana.
1.2. Emergência da “ciência moderna”
É considerado por muitos autores (KOYRÉ, sem data; von WRIGHT, 1979; GARCÍA BORRÓN, 1987; COHEN, 1988; RADL, 1988a e b; EDELMAN, 1995) que só no século XVII11 é que toma forma uma verdadeira revolução, na estrutura do saber/ciência. Na génese desta revolução é costume citar os nomes de Galileu, Descartes, Francis Bacon e, também, com muita frequência, o de Newton. Terá então nascido a, por muitos chamada, “ciência galilaica”, “nova ciência” ou “ciência moderna”, por oposição à “velha ciência”, de inspiração aristotélica.
Num ambiente cultural em que continuava a reinar uma certa unificação do saber12 iniciou-se o processo de autonomização progressiva de diversas ciências (embora numa lógica hegemónica da física-matemática)13. A compreensão das características da “ciência moderna” exige, contudo, uma análise (FREITAS, 1999): a) das tensões epistemológicas existentes entre as três tendências principais (personificáveis em Descartes, Bacon e Galileu) que estão presentes na sua emergência; b) do confronto entre o conjunto unificado dessas três tendências e a ciência escolástica “aristotelista”.
Começaremos por caracterizar, sumariamente, alguns dos traços mais salientes do confronto no interior da “ciência moderna” emergente, até porque muitos deles são o cerne da actual discussão sobre que características deve ter a Educação em Ciências.
11 Apesar do conhecimento humano sobre o mundo ter aumentado gradualmente, ao longo
dos tempos. 12 A filosofia era considerada a mãe de todos os ramos de saber/ciência. 13 Que acabou por conduzir à super-especialização e fragmentação que caracteriza a
ciência dos finais do século XX.
1.2.1. O reducionismo e dualismo – a relação entre o corpo e a mente/espírito
Certos autores como TAYLOR (1989) e EDELMAN (1995) falam de reducionismo, num sentido lato e global. VARELA (1983) e ROSE (1989) estabelecem uma diferenciação entre reducionismo enquanto “método” e reducionismo enquanto “filosofia”. AYALA (1983) e MAYR (1988), reconhecendo uma certa ambiguidade do termo “reducionismo”, consideram necessário distinguir entre três tipos fundamentais de reducionismo: “o ontológico, o metodológico e o epistemológico” (AYALA, 1983, p. 10) e “reducionismo constitutivo”, “reducionismo explicativo” e “reducionismo teórico” (MAYR, 1988, pp. 10-11).
Ao contrário da ciência aristotélica14, a “ciência moderna” pretendia assumir-se como reducionista radical, ou seja, ontológica, metodológica e epistemologicamente reducionista. O estabelecimento de uma divisão irreconciliável entre “coisa pensante” e “coisas extensas”15 (DESCARTES, 1995) e a defesa da possibilidade do estudo destas últimas no domínio exclusivo da física é um sinal de uma postura dualista e ontologicamente reducionista. Descartes afirma, ainda, o primado do conhecimento da alma/pensamento sobre o primado do conhecimento do corpo – “o conhecimento que possuímos do nosso pensamento precede o do corpo, sendo incomparavelmente mais evidente” (DESCARTES, 1995, p. 57). Trata-se da completa e radical desincorporação do espírito/pensamento que, sendo considerado imaterial, não tem localização possível no espaço nem no tempo e “está fora do alcance de um observador externo” (EDELMAN, 1995, p. 28)16. Por seu turno, Galileu, ao defender que o observador cientista devia ser “objectivo”, evitando “as enfadonhas disputas dos filósofos
14 Sendo vitalista, a ciência aristotélica era anti-reducionista, do ponto de vista ontológico,
metodológico e epistemológico, pois afirmava “que os processos vitais eram, pelo menos
em parte, resultado de um princípio ou entidade imaterial (…) denominavam de ‘força
vital’, ‘entelequia’, ‘élan vital’, ‘alma’, ‘energia radial’, ou similares” (AYALA, 1983, p.
10). 15 Res cogitans e Res extensa. 16 “(…) com uma incaracterística falta de rigor” (EDELMAN, 1995, p 28), Descartes
arranjou forma de superar a contradição, aparentemente insanável, de localizar a
interacção entre algo extenso e material com algo pensante e imaterial e elegeu a
glândula pineal (epífise) como local do corpo onde tal interacção ocorreria.
aristotélicos e respeito das causas últimas”, “excluiu o espírito da natureza” (EDELMAN, 1995, p. 25). Tal parece ser, também, a postura de Bacon, pelo que poderemos considerá-los uma espécie de dualistas “por defeito”.
A unicidade do método (o que mais adiante abordaremos com mais pormenor), baseado na divisão do objecto de estudo em parcelas e no caminhar das partes para o todo e do simples para o complicado, é um sinal de reducionismo metodológico.
Finalmente, a conceitualização cartesiana de ciência, expressa na sua “árvore das ciências”17 ilustra bem o reducionismo epistemológico do pensamento de DESCARTES (1995). No pensamento de Galileu também é claro o lugar de privilégio atribuído à física e à matemática, o que denuncia um reducionismo constitutivo, explicativo e teórico semelhante ao de Descartes. Embora com diferenças de forma no que respeita ao método, Bacon também tem que ser considerado um reducionista radical.
“Para os filósofos, de Bacon e Descartes a Locke e Kant, as ciências físicas e, em particular, a mecânica, eram o paradigma de ciência“ o que prefigura uma tentativa “imperialista” de unificação mecanicista e redutora da ciência e, em particular, aquilo que com Carnap ficará conhecido como fisicismo, ou seja, consideração da linguagem da física como linguagem universal da ciência (GEYMONAT, sem data).
1.2.2. Causalidade e mecanicismo
Pese embora todas as diferenças de pormenor, pode afirmar-se que Descartes, Galileu e Bacon defendem perspectivas mecanicistas de entendimento da natureza, ou seja, que sendo finita e mecânica, ela pode ser como tal interpretada, de forma causal, através da física. Bacon, ao retomar a teoria das causas de Aristóteles, parece permanecer preso do aristotelismo
17 “(...) toda a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são formadas pela metafísica, o
tronco pela física e os ramos (…) todas as outras ciências que, ao cabo, se reduzem a três
principais: a medicina, a mecânica e a moral”. (DESCARTES, 1995, pp. 38-39).
(RADL, 1988; SOUSA (sem data). Considerando que a causa final “não é de qualquer utilidade” e que ela “corrompe (...) as ciências, salvo no que respeita às acções humanas”, Bacon acrescenta que as causas material e eficiente, “tal como são investigadas e compreendidas, quer dizer como causas longínquas” são “coisa superficial e inútil, em quase nada contribuindo para a ciência verdadeira e activa” (SOUSA, sem data, p. 112). Bacon conclui, afirmando que, apesar de na natureza existirem apenas “corpos individuais” que “executam actos individuais”, o importante é conhecer a forma, ou seja a lei que guia esses actos individuais e que a “investigação”, “invenção” e a “explicação” da forma valem como “fundamento” para a ciência (SOUSA, sem data, p. 112). Assim, e apesar de tudo “não é definitivamente o aristotelismo que caracteriza a perspectiva baconiana” (SOUSA, 1991, p. 14).
Para Descartes uma primeira certeza situa-se no acto de pensar: “Penso, logo existo” (DESCARTES, 1995). Em seguida, Descartes afirma a existência de Deus e, assim, no dizer de GILSON (1979, p. 17), ao “duvido; logo, existo” pode acrescentar-se o “duvido; logo Deus existe”. Depois, Descartes afirma a existência das coisas com extensão, ou seja, dos corpos finitos e mecânicos. São estes os pressupostos básicos da metafísica de Descartes, e com eles cessa a metafísica e começa a física (GILSON, 1979). Recusando a “investigação das causas finais” (o que representaria a imodéstia de querer que Deus nos participasse os seus “intentos”), afirma Deus como criador de todas as coisas e considera que só nos devemos concentrar a encontrar, “pela faculdade de raciocinar que ele pôs em nós”, como é que “aquelas [coisas] que aprendemos por intermédio dos sentidos, puderam ser produzidas” (DESCARTES, 1995, p. 72), ou seja, nos devemos concentrar nas causas materiais ou mecânicas das coisas. A posição de Galileu, ao contestar o interesse das discussões escolásticas acerca das causas finais e insistir na investigação das causas mecânicas, de natureza físico-matemática é, em geral, semelhante.
1.2.3. O método
BACON (sem data) afirma que “só na indução verdadeira poderá haver motivo para esperar” (p. 28) e acrescenta que “determinar as noções e os axiomas por indução verdadeira é o verdadeiro remédio” (p. 35). Trata-se pois, em sua opinião de “dissecar a natureza” e não de “abstrair dela”, o que, segundo Bacon “aconteceu com a escola de Demócrito que, mais do que qualquer outra soube penetrar a natureza” (BACON, sem data, p. 40). Outras afirmações de Bacon acerca da ciência e do método científico, clarificam melhor a sua posição nesta matéria: a) a melhor demonstração é a “experiência” (p. 54); b) há necessidade de tratar “a massa dos particulares” de uma “maneira regrada e ordenada” (p. 84); c) não se deve “permitir ao entendimento que salte e voe dos particulares até aos axiomas mais afastados e gerais” (p. 85); d) nada se pode esperar das ciências “enquanto estas através de uma escala verdadeira e gradualmente, sem interrupções nem falhas, não ascenderem dos particulares até aos axiomas menores, depois os axiomas médios (...) para chegar, finalmente, e só então, aos mais gerais” (p. 85); e) há necessidade de inventar uma nova forma de indução “diferente daquela que até à data foi aceite”, que “através de rejeições e de exclusões, depois, após um número suficiente de casos negativos, concluir dos positivos” (p. 86); f) após o estabelecimento de um axioma é obrigatório “verificar se o axioma está bem adaptado e talhado à medida dos particulares de onde foi extraído ou se é mais amplo e extenso”, devendo verificar-se se “se confirma essa amplitude e extensão através da designação de novos particulares que lhe servem de caução” (p. 85-86). Contudo, alguns autores consideram não haver coincidência entre o método de Bacon e o método indutivo.
Ao fazer o elogio de Galileu e Descartes, em detrimento da postura de Bacon, KOYRÉ (sem data, p. 66), afirma que Bacon reduz a ciência “ao registo, à classificação e à ordenação dos factos do senso comum”, e que, ao contrário, Descartes defende a “possibilidade de fazer a teoria penetrar a acção, isto é, a possibilidade da conversão da inteligência teórica em real, da possibilidade (…) de uma tecnologia e de uma física. Para Descartes, a questão do método (racional) era absolutamente crucial e definida da seguinte forma: a) “nunca aceitar como verdadeira alguma coisa sem a conhecer evidentemente como tal”, evitando “cuidadosamente a precipitação”; b) “dividir cada uma das dificuldades (...) em tantas parcelas quantas fosse possível e necessário para melhor as resolver”; c) “conduzir por ordem os (...) pensamentos, começando pelos objectivos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, gradualmente, até ao conhecimento dos mais compostos”; d) “fazer as enumerações tão íntegras e revisões tão gerais que tivesse a certeza de nada omitir” (DESCARTES, 1979, p. 56-58). A verdadeira essência do método de Descartes é o dedutivismo puro, inspirado pela ideia de Deus e pelo raciocínio de tipo matemático, que Deus quis que fosse o que melhor descreve o funcionamento das coisas.
Na opinião de KOYRÉ (sem data, p. 55)18 Galileu aproxima-se mais da postura cartesiana do que da postura baconiana, pois nas suas obras principais19 Galileu explica a maneira de interrogar a natureza, e defende uma certa teoria da experimentação científica “na qual a formulação dos postulados e a dedução das suas consequências precedem e guiam o recurso à observação”.
1.2.4. Papel da observação e da experimentação
Um outro traço distintivo da “ciência moderna” que, em directa relação com as questões do método, mais vulgarmente é citado, é o ela basear-se na observação rigorosa de factos e fenómenos e na realização de experiências, para formular teorias explicativas desses mesmos factos e fenómenos. Mas tal não significa que, antes de Galileu, a observação não tivesse qualquer importância e que, só depois, passasse a ser motor de conhecimento, sendo possível comprovar historicamente que a observação
18 E apesar de a “obsessão” metódica de Descartes o levar a considerar que Galileu “está cheio de contínuas digressões e que não chega a explicar tudo o que é relevante em cada ponto, porque “só buscava razões para conseguir efeitos particulares” e “em consequência construiu sem fundamentos” (Descartes, citado por FEYERABEND, 1986,
p. 53). 19 Diálogo e Discursos.
cumpria, para Aristóteles, um importante papel (COHEN, 1988). E, mesmo no que se refere à ideia de uma Terra imóvel, uma tal ideia estava, sem dúvida, baseada não só em pressupostos de natureza metafísica mas, também, em dados de observação, nomeadamente na forma como caem os corpos pesados20. Por outro lado, o próprio Galileu não obteve a sua lei da queda dos graves “a partir de observações, pelo menos de novas observações, mas de uma corrente de argumentos lógicos” (KUHN, 1990, p. 117). Assim, embora não seja historicamente correcto considerar Aristóteles “apenas como um filósofo de gabinete” (COHEN, 1988, p. 31) nem Galileu somente, ou principalmente, como um experimentalista, um técnico, ou um prático, sendo discutível qual o seu verdadeiro peso, “a observação e a experimentação constituem um dos traços mais característicos da ciência moderna” (KOYRÉ, sem data, p. 14).
1.2.5. Papel da matemática
Ao caracterizar a “atitude mental ou intelectual da ciência moderna”, KOYRÉ (sem data) realça duas características: a matematização da natureza e, por consequência, a matematização da ciência. Tal elogio da matemática, assinalado por outros autores (GILSON, 1979; RADL, 1988a; EDELMAN, 1995), pode ser considerado como uma expressão da influência de Platão na génese da “ciência moderna” (KOYRÉ, sem data). Segundo GEYMONAT (sem data), Galileu acredita que “‘o livro da natureza’ está escrito em termos matemáticos” e justifica esse facto com a ideia de que assim terá sido “a vontade divina no acto da criação do universo” (p. 21). BEYSSADE (1981) assinala que, para Descartes: “as matemáticas são, enquanto método, uma espécie de lógica provisória e antecipada para depois se tornarem, com a garantia divina, ciências definitivas” (pp. 89-90). Bacon, ao contrário, recusava-se a atribuir à matemática o “lugar preponderante que a ciência moderna lhe irá atribuir no processo de construção dos conhecimentos científicos” (SOUSA, sem data, p. 14). Assim e no que a este aspecto
20 Como o reconhece o próprio Galileu em seu Trattato della Sfera (Galileu, citado por FEYERABEND, 1986).
respeita, Descartes e Galileu retomam uma posição neoplatónica, enquanto Bacon se situa perto da posição aristotélica.
1.2.6. Síntese dos principais pressupostos epistemológicos da “ciência moderna”
Em síntese, é interessante verificar como é que neste confronto do século XVI/XVII se reeditam, com novas dinâmicas e novas fronteiras, alguns dos confrontos da Grécia Antiga e de que forma as “sombras” de Demócrito, Platão e Aristóteles se perfilam por trás dos novos “actores” (fig. 2).
Figura 1. Confronto de que sai vitoriosa a “ciência moderna” (adaptado de FREITAS, 1999).
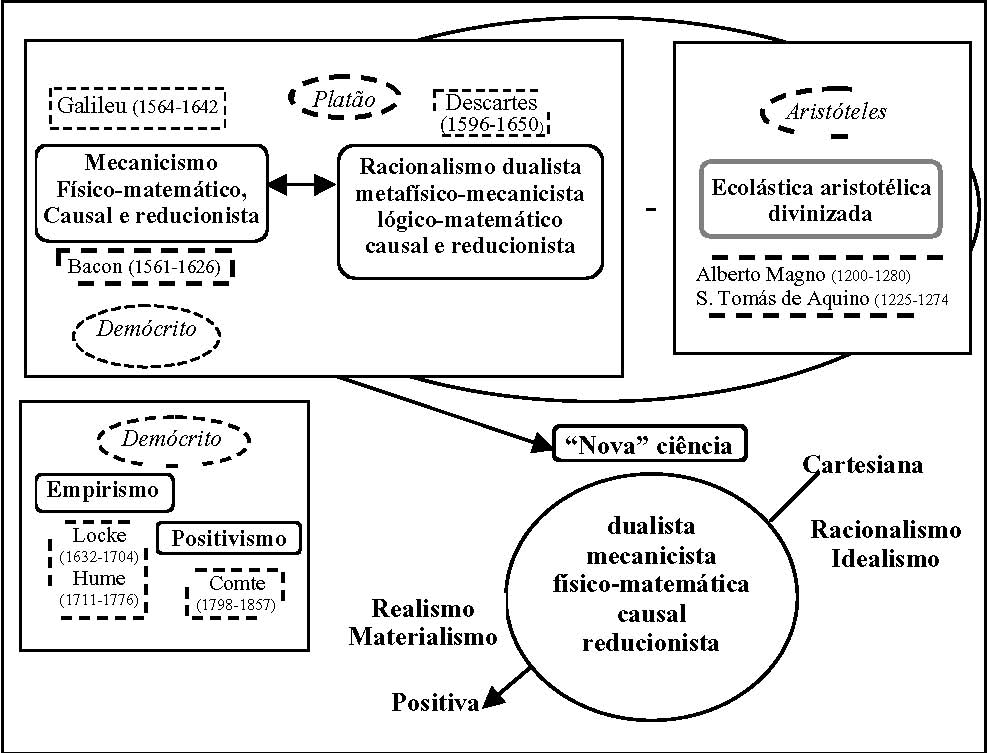
Assim, a “ciência moderna” é (FREITAS; 1999): por um lado, cartesiana e, por outro, positiva; oscila entre paradigmas idealistas/racionalistas e paradigmas mais materialistas/realistas; em qualquer dos casos, contudo, assume contornos gerais dualistas, mecanicistas, físico-matemáticos, causais e reducionistas.
1.4. A evolução e consolidação da “ciência moderna” como ideologia hegemónica e sua crise epistemológica actual
E como evolui, depois, a “ciência moderna”? O que mudou, particularmente, durante o século vinte?21 Aparentemente, as visões empiristas, vitoriosas durante os séculos XVIII e XIX, acabaram sendo claramente derrotadas por versões mais racionalistas e tentativas de síntese22. Em todas estas abordagens subjaz, contudo, uma ideia de ciência como conhecimento de validade superior (senão única). É este, também, o pressuposto que está presente em certos discursos que fazem o elogio da racionalidade científica e da importância da Educação em Ciências. Só com a emergência de versões relativistas críticas (como, por exemplo, a de Feyeraband, de Latour e de Sousa Santos, entre outros) que denunciam o carácter hegemónico e epistemicida da “ciência moderna”, é que esta ideia da superioridade inquestionável da ciência e da tecnologia é posta, de certa forma, em causa. E é, exactamente, neste ponto do debate que hoje nos encontramos.
Mas deixem que lance mão de um extracto de entrevista, recentemente publicado na revista de um jornal nacional:
“Viver para sempre: se conseguirmos mais vinte anos de boa saúde beneficiaremos da revolução biotecnológica, prolongamos a vida mais algumas décadas, depois vamos na revolução nanotecnológica, inteligência
21 Esta problemática tem sido muito discutida, no âmbito da Educação em Ciências (e, em particular, da importância da história e filosofia das ciências na educação em ciências), sob a designação geral de “contributos da nova filosofia das ciências”, em que é dada particular relevância às teorizações de Popper, Lakatos e Kuhn (entre outros).
22 O que não significa, contudo, que não houvesse (e continue a haver) cientistas e educadores em ciências que acabem divulgando, na prática, uma imagem de ciência mais empiro-positivista que racionalista.
artificial, se sairmos dos quarenta e cinco a coisa está resolvida, vamos ser imortais. Face à pergunta: é possível viver para sempre? A resposta previsível nas próximas duas décadas é que, com a compreensão do genoma e protoma humanos, o corpo deixa de ser um enigma, e se centralizarmos com êxito esta primeira ponte atingimos a segunda: a vida humana poderá ser prolongada centenas de anos! Isto acontecerá ainda na primeira metade deste século!” (Pública, 29 de Maio de 2005).
“Claro… trata-se de um astrólogo, ou coisa assim… nada que um cientista fosse afirmar…”, poderão pensar alguns dos mais ortodoxos. As palavras que estou a citar não são de um astrólogo (normalmente tido como representante de um tipo de conhecimento especulativo e pouco rigoroso), NÃO, são de um médico, um especialista em medicina anti-envelhecimento, director de um hospital, talvez coordenador de investigação, nos Estados Unidos. E será este um ponto de vista cientificamente defensável? Será possível fazer a defesa de um mundo de imortais? E, mesmo que uma tal contradição com o que é vida (que, inclui, obrigatoriamente, num qualquer momento, tanto a morte como a geração de novas vidas) fosse possível, como resolveríamos os problemas daí resultantes? Como é que uma Terra finita suportaria uma espécie de seres vivos imortais, reproduzindo-se sistematicamente e crescendo exponencialmente? E que consequências psico-sociais adviriam desta hipotética realidade?
Encontramo-nos, de facto, perante uma argumentação científica “mumificada”, no sentido em que, em nossa opinião, se filia na lógica do mais puro pensamento baconiano. Mas não se trata, verdadeiramente, de uma excepção, pois posturas semelhantes a esta não são tão pouco comuns quanto isso. Expressa ou não por palavras tão contundentes, podemos interrogar-nos até que ponto este discurso é diferente do discurso dos cientistas que fazem o elogio incondicional dos organismos geneticamente modificados (OGMs) ou, antes do desastre da “vacas loucas”, faziam o elogio das farinhas, contendo extractos de origem animal, para alimentar herbívoros. Este remeter da natureza para um lugar de exterioridade e, como tal, de inferioridade (SANTOS et al., 2005), como e somente algo que está ao serviço dos desígnios humanos, por mais despropositados que eles sejam, faz parte da herança da “nossa” ciência moderna e agarra-se a ela de forma “gordurosa”23.
Resumindo, a nossa tradição de pensamento científico (quer racionalista quer empirista), pese embora todos os enormes contributos que deu e continua dando, é:
a) dualista, tanto do ponto de vista do ser como do conhecer, já que separou e ainda continua em muitos casos a separar, a mente do corpo, o sujeito do objecto, os sentimentos da razão;
b) reducionista, no sentido em que separa o todo em partes e acredita ser possível explicar o todo, através da explicação da soma das partes ou explicar o vivo através da dinâmica físico-química dos seus constituintes, ou um efeito a partir do isolamento de uma causa;
c) com alguns problemas de democracia interna, por tender a atribuir dignidade científica hierarquizada aos seus diferentes ramos/domínios, de acordo com um protótipo de natureza físico-matemática e base/aplicação tecnológica;
d) elitista e hegemónica, porque se arroga como única forma válida de interpretar o mundo e actuar sobre ele.
Gostávamos que ficasse inteiramente claro que não estamos aqui a fazer qualquer tipo de discurso anti-científico, mas antes a defender a necessidade de uma ciência pós-moderna, indispensável à construção de sociedades sustentáveis.
“A história canónica da ciência ocidental é uma história dos alegados e, sem dúvida, reais – benefícios e efeitos capacitantes que a ciência, através do desenvolvimento tecnológico ou dos avanços no domínio da medicina, por exemplo, terá trazido às populações de todo o mundo. Mas o outro lado da história – os epistemicídios que foram perpetrados, em nome da visão científica do mundo, contra outros modos de conhecimento, com o consequente desperdício e destruição de muita experiência cognitiva humana
– é raras vezes mencionado e, quando tal acontece, o é sobretudo para reafirmar a bondade intrínseca da ciência e opô-la às aplicações perversas desta por actores económicos, políticos e militares poderosos, que seriam, estes sim, os responsáveis pelos “maus usos de uma ciência, intrinsecamente
23 Parafraseando Pessoa na sua metáfora de “amor gorduroso”.
indiferente a considerações morais e de um conhecimento que, em si mesmo, teria uma vocação benigna” (SANTOS, et al., 2005, p. 24)
E tudo o que se diz não respeita, somente, às ciências físico-naturais, mas também às chamadas ciências humanas que, assumindo “a condição de ideologia legitimadora da subordinação dos países da periferia e da semiperiferia do sistema mundial”, continuam, muitas vezes, a “descrever e interpretar o mundo em função de teorias, de categorias e de metodologias desenvolvidas para lidar com as sociedades modernas do Norte” (SANTOS et al., p. 22-23).
As razões da crise epistemológica da ciência moderna devem, pois, ser procuradas em quatro tipos de factores:
a) algumas características da própria ciência, tal qual se constituiu e, nomeadamente, os enganos cometidos na forma de conceptualizar o viver humano em si e nas suas relações com a natureza;
b) a arrogância de outorgar-se como único conhecimento válido e de, em conjunto com as dimensões económicas e políticas (e, até, religiosas) ter procedido ao epistemicídio de numerosas formas de conhecimento diferente, emergentes de outras tantas vivências e concepções diferentes da relação Homem-Natureza;
c) a “vitalidade cognitiva do Sul” que a ciência moderna acaba reconhecendo, ao admitir a existência de outros saberes “mesmo quando procura circunscrever a sua relevância, apodando-os de ‘conhecimentos locais’ ou de ‘etnociências’.” (SANTOS, et al., p. 23);
d) o “reconhecimento da disjunção crescente entre modelização e previsão”, ou seja, verificação de que “a capacidade de prever através da domesticação da natureza e do mundo social”, com base em modelos teóricos e investigações empíricas realizadas em ambientes “confinados e controlados de laboratório” é posta em causa “pela dificuldade de lidar com situações e processos caracterizados pela complexidade e pela impossibilidade de identificar e controlar todas as variáveis” (SANTOS, et al., p. 23).
A construção de um futuro mais sustentável exige a adopção de novas posturas epistemológicas. É sobre este assunto que, em seguida, nos iremos debruçar.
2. Epistemologia biologicamente fundamentada e ecologia de saberes
Segundo EDELMAN (1995), o que nos nossos dias está a acontecer, no âmbito das neurociências, “pode ser visto como um prelúdio à maior revolução científica possível, com inevitáveis e importantes consequências sociais.” (p. 13), já que ela nos poderá conduzir à conclusão de que é cientificamente possível compreender a consciência. Assim, “temos que incorporar a biologia nas nossas teorias do conhecimento e da linguagem” e “desenvolver aquilo a que chamamos uma epistemologia biologicamente fundamentada – uma explicação do modo como conhecemos e somos conscientes, à luz dos factos da evolução e da biologia do desenvolvimento” (EDELMAN, 1995, p. 358).
As novas teorizações relativamente à mente e à consciência são o resultado de contribuições empíricas e teóricas de natureza diversa, vindas de diferentes campos do saber (biologia, ecologia, neurociências, física, linguística, cibernética, inteligência artificial, psicologia, ciências cognitivas, sociologia, etologia, filosofia, epistemologia, educação, etc.)24. Para que se torne possível realizar uma síntese do que nos parecem ser a base deste novo olhar sobre a vida, o viver e o conhecer humano e suas implicações epistemológicas para uma Ciência e uma Educação em Ciências do futuro (por isso mesmo, não “modernas”, mas “pós-modernas”), iremos passando por algumas etapas intermédias que nos levarão à construção de um esquema geral de síntese (figura 2, final do ponto 2).
24 Darwin e os neodarwinistas (e a sua síntese moderna do darwinismo); William James (que abre a possibilidade de uma análise científica da consciência); Putnam, Lakoff, Searle, Millikan e Johnson (que defendem o pensamento como dependente do corpo e do cérebro e, portanto, incorporado); Langacker e Lakoff, (pela sua defesa de incorporação da mente e pela sua teoria sobre a linguagem); von Foester (com a conjectura de von Foester e o princípio da complexificação pelo ruído); Atlan (responsável por uma teoria sobre a auto-organização dos seres vivos que recontextualiza o princípio complexificação pelo ruído); Humberto Maturana e Francisco Varela (pela sua teoria da autopoiesis); Edelman (com sua proposta de uma epistemologia biologicamente fundamentada); António Damásio (e suas teorizações relativas à inter-relação razão-emoção); e muitos outros.
2.1. Um novo entendimento da vida e dos sistemas vivos
A fim de apresentarem a sua teoria da autopoiesis25 e, concretamente, precisarem o significado de tal termo, que defendem como necessário e suficiente para definir a vida (o que constitui o vértice A da base do esquema da figura 3), MATURANA & VARELA (1973, 1990) estabelecem uma distinção básica entre organização26 e estrutura27 e aplicam-na a um novo entendimento dos sistemas vivos: “seres vivos distintos distinguem-se por terem estruturas distintas, sendo contudo iguais em termos de organização” (MATURANA & VARELA, 1990, p. 40). As unidades autopoiéticas geram e especificam, continuamente, a sua própria organização e são caracterizadas por (VARELA, 1989): a) serem “autónomas”, pois “todas as suas alterações estão subordinadas à manutenção da sua própria organização” (p. 46); b) terem uma “individualidade” que resulta do seu funcionamento, pois “mantendo invariante a sua organização elas conservam uma identidade independente, que entra em interacção com o observador” (p. 47); c) serem “unidades”, em que as fronteiras “são especificadas pelo funcionamento dos seus processos de autoprodução” (p. 47); d) serem “fechadas” (clausura operacional), no sentido em que, quando perturbadas, elas “podem experimentar transformações estruturais internas” como forma de “compensar essas perturbações” (p. 47).
Os mesmos autores introduzem, ainda, outros importantes conceitos que ajudam a explicar como esse padrão de organização típico dos sistemas vivos especifica o seu viver, durante o seu tempo de vida, num certo ambiente. Partindo do postulado da clausura operacional dos sistemas vivos, explicam as interacções entre os organismos e o meio como perturbações mútuas que desencadeiam mudanças estruturais. As perturbações ocorridas no meio “não contém, em si, uma especificação dos
25 Do grego, em tradução literal, significa auto-produção. 26 Conjunto de “relações que devem ocorrer entre os componentes de uma coisa para que
essa coisa possa ser reconhecida como membro de uma classe específica”
(MATURANA & VARELA, 1990, p. 40). 27 Conjunto de “componentes e relações que, concretamente, constituem uma unidade
particular, realizando a sua organização” (MATURANA & VARELA, 1990, p. 40).
efeitos sobre o ser vivo”, sendo este que, por meio de sua estrutura, “determina quais as mudanças que ocorrerão em resposta”; assim, “a interacção não é instrutiva pois não determina quais irão ser os seus efeitos” (MATURANA & VARELA, 1990, p. 108).
Assim, desde que não se trate de perturbações destrutivas ir-se-ão desencadear modificações estruturais dos organismos que, aos nossos olhos de observadores, aparecem como compatíveis ou congruentes. O meio e a unidade autopoiética actuam, então, como fontes de perturbações recíprocas que desencadeiam mudanças de estado, segundo um processo continuado que Maturana e Varela designam por acoplamento estrutural (aspecto que constitui o vértice B da base do nosso esquema). Nesta perspectiva, as mudanças que ocorrem numa unidade “aparecem como que “seleccionadas” pelo meio, mediante um contínuo jogo de interacções” e o meio, por seu lado, “pode ver-se como um contínuo “selector” das mudanças estruturais que o organismo sofre na sua ontogenia” (MATURANA & VARELA, 1990, p. 114-115). Esta ideia relativa ao carácter não informativo das perturbações28 e à congruência não informativa entre dois domínios é uma ideia base com importantes consequências biológicas e epistemológicas, que está na base daquilo que EDELMAN (1995) designa por reconhecimento selectivo29.
A máxima de MATURANA & VARELA (1990) de que “conhecer é viver e viver é conhecer”, a que VARELA (sem data) acrescenta uma outra importante contribuição – sugerindo que a cognição deve ser entendida como “o historial da união estrutural que en-age, que faz emergir um mundo” (p.89) – constitui o terceiro pilar da nossa conceptualização dos sistemas vivos e seu viver. Segundo este ângulo de análise, todos os sistemas vivos são cognitivos, já que nas suas interacções recorrentes de cada um sistema vivo funciona cognitivamente de forma adequada “quando
28 Por vezes chamadas estímulos, termo que, em nossa opinião, pode reforçar falsa ideia de
interacção instrutiva. 29 “Constante concordância ou adequação adaptativa de elementos pertencentes a um
domínio físico às mudanças ocorridas em elementos de outro domínio físico mais ou
menos independente, concordância que ocorre sem instrução prévia” (EDELMAN, 1995,
p.112).
se une a um mundo de significados preexistente, em desenvolvimento contínuo (como é o caso dos descendentes de todas as espécies), ou quando forma um mundo novo (como acontece na história da evolução)” (p. 89) (aspecto que constitui o vértice C da base do nosso esquema).
CAPRA (2002), na sua tentativa de construir “uma concepção unificada da vida, da mente e da consciência (…)” na qual a consciência humana se “encontra inextricavelmente ligada ao mundo social da cultura o dos relacionamentos interpessoais” (p. 48), defende que “para que se tenha uma compreensão plena de qualquer fenómeno biológico” é preciso levar em conta três perspectivas: “forma (ou padrão de organização)”, “matéria (ou estrutura material)” e “processo” (p. 84). Embora, de um ponto de vista formal ou quando aplicada a este ou aquele fenómeno biológico, esta sistematização se revele interessante, pensamos que ela não só não serve totalmente os nossos propósitos, como pode gerar alguma confusão30. Assim, a nossa base de conceitualização da vida, na sua inter-relação com um determinado ambiente, assenta nas três premissas emergentes da Teoria de Santiago31 e atrás referidas. A ideia de que a cognição e a aprendizagem (como uma características dos sistemas vivos e não somente do homem), emergem da materialização de um padrão de organização em rede e auto-gerado, num contexto inter-relacional de perturbação mútuas, não instrutivas, com o meio, é fundamental para a afirmação do carácter não informativo da educação, em geral, e da educação em ciências, em particular. A educação será sempre perturbação e os resultados educativos, emergências em larga medida determinadas por quem aprende.
2.2. Integração da componente sociocultural e humana
É a partir desta base de conceitualização do vivo no seu ambiente que poderemos, agora, tentar integrar as dimensões humanas (individual, social
30 A proposta de Capra, contudo, revelou-se útil enquanto fonte de reflexão para esta nossa
sistematização e, como mais adiante se explicitará, para o completar do corpo e topo do
esquema. 31 Como, por vezes, é conhecida a teorização de Maturana e Varela, em geral e a Teoria da
Autopoiesis, em particular.
e cultural)32. Comecemos por uma rápida abordagem aos conceitos de comportamento, de comunicação e de cultura. MATURANA & VARELA (1990) definem condutas ou comportamentos como “mudanças de postura ou posição, que um observador descreve como movimentos ou acções em relação a um certo ambiente” (p. 152). Entre diversos comportamentos possíveis, há que realçar os comportamentos comunicativos (uns inatos, filogénicos, e outros adquiridos, ontogénicos) que podem ser definidos como “comportamentos que ocorrem num acoplamento social” e por comunicação pode entender-se a “coordenação comportamental” que observamos em resultado de comportamentos comunicativos (p. 217).
Para MATURANA & VARELA (1990), as condutas comunicativas ontogénicas que podem ser descritas por um observador, em termos semânticos, designam-se por condutas linguísticas. Um dueto de tenores ou… de aves canoras pode ser considerado como uma conduta linguística. E enquanto que a estabilidade das condutas comunicativas instintivas (inatas) depende da estabilidade genética da espécie, as condutas comunicativas ontogénicas (ou seja, as condutas linguísticas) dependem da estabilização cultural). Os mesmos autores apresentam, ainda, uma interessante definição biológica de conduta cultural: “estabilidade transgeracional de configurações comportamentais, ontogenicamente adquiridas na dinâmica comunicativa do meio social” (MATURANA & VARELA, 1990, p. 223).
2.2.1. O sistema nervoso e as funções cerebrais superiores – implicações educativas
Não é a existência de um qualquer sistema nervoso que determina a ocorrência de comportamentos, uma vez que a generalidade dos seres vivos exibe comportamentos. O sistema nervoso – porque inter-relaciona em rede, superfícies sensitivas e superfícies motoras – mais não faz (e é imenso) que expandir, drasticamente, a plasticidade comportamental dos organismos que
o possuem (MATURANA & VARELA, 1990).
32 Poderá parecer estranho que se fale de “aspectos socioculturais, primeiro, e só depois, “humanos” e, ainda mais estranho que se volte a repetir “individual, social e cultural”, a propósito dos humanos. Trata-se da marcação clara de uma postura de defesa de que há comportamentos sociais e culturais, noutros animais que não o Homem.
Uma nova abordagem do sistema nervoso33, baseada nas mais recentes contribuições das neurociências, concebe o sistema nervoso como uma rede de grupos de neurónios. Os neurónios são células com características particulares que, dentro de um padrão geral comum, apresentam diversas variantes estruturais. De entre as três características comuns, a mais importante é, talvez, a conectividade. É ela que está na base da formação de redes neuronais de extrema complexidade, que acabam por definir os diferentes níveis de arquitectura neural (DAMÁSIO, 1995; EDELMAN, 1995)34.
Apesar do elevado número de ligações interneurais35, cada neurónio comunica, apenas, com um pequeno número de outros neurónios quer na vizinhança muito próxima quer a maior distância. As principais consequências deste tipo de organização são as seguintes (DAMÁSIO, 1995): a) o que cada neurónio faz depende do grupo em que se insere; b) o que os grupos de neurónios fazem depende de como se influenciam uns aos outros numa malha de sistemas interligados; c) o contributo de cada um dos grupos para o funcionamento do sistema a que pertence depende da sua localização nesse sistema. Não é, pois, somando a actividade individual de cada neurónio (reduzindo-a à excitação em cadeia dos neurónios, desencadeada pelo impulso nervoso36 que obtemos o funcionamento do
33 A abordagem clássica e reducionista abordagem do sistema nervoso assenta na sua descrição anatomo-histológica e na explicação das suas funções a partir do funcionamento da unidade básica de constituição do sistema nervoso (o neurónio) e da transmissão química do impulso nervoso, o que se constitui, de forma explícita ou implícita, como uma perspectiva reducionista.
34 As nomenclaturas de Damásio e de Edelman sobre a arquitectura neural são basicamente equivalentes.
35 Para se ter uma ideia do número de ligações existente no córtex cerebral é imaginar que uma porção de córtex do tamanho de uma cabeça de fósforo grande, considerando só “as ligações numeráveis” tem cerca de um bilião de sinapses; contudo, se atendermos “às várias ligações combinações dessas ligações” constataríamos que “o número seria superastronómico – na ordem de dez, seguido de milhões de zeros35” (EDELMAN, 1995, p. 38).
36 Há ainda que constatar que muitas sinapses (“sinapses silenciosas”, EDELMAN, 1995) não revelam aparentemente qualquer actividade, ou seja, não têm expressão, não havendo ainda para tal facto uma explicação suficientemente satisfatória.
sistema nervoso e, em especial, do cérebro. De facto, ele só pode ser compreendido aceitando a ideia de que, ligados em rede dinâmica, os neurónios formam grupos/sistemas interligados de forma complexa, variada e auto-organizada. “O cérebro é o exemplo de um sistema que se auto-organiza” (EDELMAN, 1995, p. 44).
O cenário de formação e diferenciação do sistema nervoso (tal como o do próprio embrião) é (EDELMAN, 1995; DAMÁSIO, 1995): a) epigenético (está dependente de fenómenos anteriores) e topobiológico (está dependente de local) já que “(…) os acontecimentos que ocorrem num local exigem que, outros locais, tenham acontecido previamente outros acontecimentos”; b) selectivo (o padrão final é seleccionado dentro de um grande variedade de padrões possíveis) já que “é também intrinsecamente dinâmico, plástico ou variável ao nível das suas unidades fundamentais, que são as células” (EDELMAN, 1995, p. 99).
EDELMAN (1995) na sua Teoria da Selecção dos Grupos Neuronais37 postula que a selecção dos grupos neuronais ocorra em três fases: a) “Selecção no desenvolvimento” – trata-se da primeira fase, ocorre antes da nascença, e consiste na divisão e morte de neurónios, com formação do chamado “repertório primário” de redes neurais em cada indivíduo; b) “Selecção ao longo da experiência” – nesta segunda fase define-se um “repertório secundário” de grupos neurais, pelo fortalecimento ou enfraquecimento selectivo (bioquímico) de populações de sinapses (mecanismo que está subjacente à memória e outras funções cerebrais); c) “Reentrada” – consiste na selecção paralela e na correlação dos mapas formados pelos repertórios primários e secundários.
Os mapas, funcionando separadamente, mas em simultâneo e em rede, reforçam ou enfraquecem a sua ligação. O mecanismo de reentrada é fundamental e está ligada à categorização perceptiva, já que define o que Edelman chama de “cartografia global” (estrutura dinâmica com múltiplos mapas reentrantes locais, sensoriais e motores, que podem entrar em ligação com partes do cérebro que não possuem mapas.
37 Que, nos seus traços gerais, parece ser aceite por DAMÁSIO (1995).
Este processo garante, assim, “um padrão comum à espécie”, a par de uma “diversidade individual ao nível das redes neuronais mais finas”38 (EDELMAN, 1995, p. 100). Segundo DAMÁSIO (1995), “pelo menos no que diz respeito aos sectores cerebrais evolutivamente modernos” tudo leva a crer que o genoma ajude a estabelecer “não um arranjo preciso, mas um arranjo geral de sistemas e circuitos” (p. 128). A evolução pode, pois, ser vista como um processo selectivo de reconhecimento que “ao actuar através da selecção em populações de indivíduos ao longo de grandes períodos de tempo” deu origem a “sistemas selectivos dentro dos indivíduos” (EDELMAN, 1995, p. 113) como o sistema imunitário39 e o sistema nervoso. O sistema nervoso é, pois, um sistema selectivo de reconhecimento somático que se define graças a uma contínua selecção de grupos neuronais40”. O sistema nervoso e o comportamento têm a ver com a “correlação adaptativa dos animais ao respectivo meio” (p. 123)41, pelo que, tal como acontece nos processos evolutivos ou imunitários, “não ocorre qualquer transferência directa de informação”, mas antes, reconhecimento selectivo (p. 124). Assim, as funções cerebrais serão construídas por um processo selectivo e não instrutivo.
EDELMAN (1995) considera que a tríade de funções cerebrais superiores “é constituída pela categorização perceptiva, pela memória e pela aprendizagem” (p. 148) ou simplesmente “percepção, memória e aprendizagem” (p. 150) e salienta que embora normalmente se abordem
38 É por esta razão que “mesmo em gémeos geneticamente idênticos” não é possível encontrar, num mesmo momento de uma qualquer fase do desenvolvimento, “exactamente o mesmo padrão de células nervosas” com “a mesma localização” (EDELMAN, 1995, p. 99).
39 Edelman (1995) recorda como os imunologistas abandonaram a “teoria da instrução” e se passou a adoptar a “teoria da selecção clonal” o que significa considerar que o sistema imunitário é um sistema selectivo de reconhecimento. O sistema imunitário apresenta outras características peculiares e algo intrigantes: há mais do que uma maneira de “reconhecer” com êxito uma forma agressora particular; não há dois indivíduos que o façam de forma exactamente igual; o sistema tem uma espécie de “memória” altamente adaptativa.
40 A unidade de selecção não é a célula nervosa individual mas sim uma colecção de células intimamente ligadas, chamada grupo neuronal.” (EDELMAN, 1995, p. 130). 41 Como aliás já o fazem Maturana e Varela.
estas funções em separado elas “são, de facto, aspectos inseparáveis de um desempenho mental comum” (p. 148). Sem apresentar uma tipificação das funções cerebrais superiores, DAMÁSIO (1995), a propósito da actividade cerebral, refere-se, por um lado, à percepção, à memória e ao raciocínio e, por outro a actividades de categorização e à aprendizagem.
Percepção e categorização perceptiva.A categorização perceptiva consiste num complexo processo de selecção de condutas adaptadas a determinadas perturbações42 sensitivas (EDELMAN, 1995). A definição e estabilização de mapas e cartas neuronais e de cartografias globais (atrás referida) explica, de forma geral, muito resumida e simplificada, como se vai fazendo a categorização perceptiva. Para Damásio (1995) a percepção e a categorização perceptiva está relacionada com aquilo que ele designa por formação de imagens perceptivas. Tais imagens perceptivas, sendo “construções do cérebro do nosso organismo” correspondem, do ponto de vista neurológico a “representações neurais” que estão “topograficamente organizadas” (p. 114).
Memória. EDELMAN (1995) propõe que “seja qual for a forma que assume”43 a memória pode ser vista como a “capacidade de repetir um desempenho” (p. 150). “As imagens não são armazenadas sob a forma de fotografias fac-similadas de coisas, de acontecimentos, de palavras ou de frases” (DAMÁSIO, 1995, p. 116). A “imagem” é uma correlação entre diferentes tipos de categorizações” (EDELMAN, 1995, p. 175). A memória não pode, pois, ser vista como “um armazenamento de atributos fixos ou codificados” que podem ser evocados “de forma replicativa, como acontece num computador” (EDELMAN, 1995, p. 151). Ela é “essencialmente reconstrutiva” (DAMÁSIO, 1995, p. 116) e deve ser encarada como “o aumento específico de uma capacidade de categorização previamente
42 Recorro aqui aos termos “condutas” e “perturbações” e não aos termos “respostas
motoras” e “estímulos sensitivos” (utilizados por Edelman), pelo facto de estes últimos
estão carregados de significado no âmbito de teorias instrutivas sobre o funcionamento
do sistema nervoso, os termos a que recorro, pelo contrário, são emergentes da teoria da
autopoiesis de Maturana e Varela sendo, por isso, muito mais adequados. 43 Foram descritos muitos tipos diferentes de memória e de muitos deles estão intimamente
ligados com a capacidade linguística.
estabelecida” (EDELMAN, 1995, p. 151). A memória corresponde a “uma propriedade dinâmica de populações de grupos neuronais” (EDELMAN, 1995, p. 150), ou seja, a representações neurais disposicionais44 (Damásio, 1995, p. 119). Estando ligada à categorização perceptiva, a memória implica “recategorização constante” e “envolve uma actividade motora contínua e uma prática repetida em contextos diferentes” (EDELMAN, 1995, p. 153). Assim pode afirmar-se que
“(...) a recordação não é estereotipada. Sob a influência de contextos em constante mutação, também ela muda, à medida que a estrutura e a dinâmica das populações neuronais envolvidas na categorização original vão, também, mudando.” (p. 151).
A memória cerebral é, pois, “inexacta” mas “capaz de um grau muito grande de generalização” (EDELMAN, 1995, p. 153). Desta forma se poderá explicar como se vai alterando (de forma diferente) a nossa “memória” tanto num domínio de saber com que perdemos contacto, como num campo de conhecimento com que lidamos todos os dias. A base bioquímica da memória, à qual ela não deve, contudo, ser reduzida consiste nas “alterações das forças sinápticas dos grupos no seio de uma cartografia global” (151). Os circuitos neuronais da memória parecem, contudo, incluir complexas ligações entre o córtex e certas estruturas encefálicas (hipotálamo, glânglios basais e cerebelo) que, entre outros aspectos garantem o funcionamento da memória em termos de longo prazo45.
A sensação que temos de integração das imagens mentais reforça-nos a ideia da memória “arquivo”, tipo “vídeo do futuro”, com odor e impressão táctil e de um único local no cérebro onde tudo isso estaria localizado, em conjunto. Mas, de facto, “o nosso forte sentido de integração mental”, é
44 Uma representação neural disposicional é uma “potencialidade de disparo dormente que ganha vida quando os neurónios disparam um determinado padrão, a um determinado ritmo, num determinado intervalo de tempo e me direcção a um alvo particular, que é outro conjunto de neurónios” (DAMÁSIO, 1995, p. 119-120).
45 É na memória que Damásio situa dois outros tipos de imagens mentais (para além das imagens perceptivas): as imagens evocadas a partir do passado real e as imagens evocadas a partir de planos para o futuro.
criado pela sincronização de “conjuntos de actividade neural separada”, ou seja, trata-se de “um truque de sincronização” (DAMÁSIO, 1995, p. 111).
Aprendizagem. Em termos básicos, pode entender-se a aprendizagem como “um processo adaptativo” (EDELMAN, 1995, p. 149) de aquisição de novas competências comportamentais. Esta noção pode, à primeira vista, parecer simplista e incipiente mas, contudo, não o é. É, isso sim, uma noção altamente abrangente que inclui desde aprendizagens básicas necessárias à sobrevivência46 (e comuns a muitos animais), até aprendizagens cognitivas altamente abstractas (tipicamente humanas). É que, por mais incrível que pareça, e como mais adiante se irá realçar, tudo indica que mesmo as mais abstractas e sofisticadas aprendizagens não “dispensam” uma ligação “subterrânea” às porções do cérebro directamente relacionadas com as mais básicas necessidades ditadas pela autopoiesis. A longa tradição racionalista ocidental e as dominantes visões epistemológicas dualistas são em grande parte responsáveis por essa aberrante negação da herança evolutiva comum que nos liga aos demais seres vivos e que está presente nas nossas vidas, mesmo quando só… estamos a “pensar”!
A aprendizagem depende da categorização perceptiva e da memória mas, se é um facto que estas duas funções superiores “são necessárias para a aprendizagem, elas não são, porém, suficientes” (EDELMAN, 1995,
p. 149). Em qualquer espécie, “a aprendizagem resulta da operação de ligação neuronal entre as topografias globais e os centros de valor (...)” (EDELMAN, 1995, p. 149), ou seja, para que a aprendizagem ocorra é necessário que se estabeleçam ligações a sistemas de valor47 .
46 Daí a importância da ligação a centros de valor biológico básico.
47 Convirá, desde já, esclarecer que o termo sistema de valor está relacionado com a manutenção de invariâncias internas típicas de uma determinada forma específica de concretizar a autopoiesis e de conservar a adaptação. Os sistemas de valor (como adiante se esclarecerá melhor) estão associados. É na memória que Damásio situa dois outros tipos de imagens mentais (para além das imagens preceptivas) as imagens evocadas a partir do passado real e as imagens evocadas a partir de planos para o futuro.
2.2.2. Razão, emoções, sentimentos e … tomadas de decisão
A nossa tradição dualista fez com a maioria de nós crescesse, tal como Damásio, “habituado a aceitar que os mecanismos da razão existiam numa região separada da mente onde as emoções não eram autorizadas a penetrar” (DAMÁSIO, 1995, p. 13). Mas tal visão está hoje totalmente ultrapassada. Para Damásio (1995) a essência de uma emoção é uma “colecção de mudanças no estado do corpo” acompanhada de alterações mentais48. Definindo emoção como
“combinação de um processo avaliatório mental, simples ou complexo, com respostas disposicionais a esse processo, na sua maioria dirigidas ao corpo propriamente dito, resultando num estado emocional do corpo, mas também dirigidas ao próprio cérebro (…), resultando em alterações mentais adicionais” (p. 153),
salienta que há que distinguir entre emoções primárias49 e emoções secundárias50.
Por seu turno, um sentimento pode definir-se como “experiência do que o corpo está a fazer enquanto pensamentos sobre conteúdos específicos continuam a desenrolar-se” (DAMÁSIO, 1995, p. 159) e podemos distinguir entre sentimentos de emoções e sentimentos de fundo51.
48 Já claramente afirmada por William James. 49 São “inatas”, “pré-organizadas” (DAMÁSIO, 1995), corresponderão portanto a predisposições de disparo neuronal integradas no repertório neuronal primário (para utilizar um termo da teoria da selecção dos grupos neuronais de Edelman) e do sistema límbico. Têm, na generalidade, valor adaptativo e de sobrevivência, como por exemplo “fuga rápida de um predador ou exibição de raiva em relação a um competidor” (DAMÁSIO, 1995, p. 147). 50 Correspondem a “ligações sistemáticas entre categorias de objectos e situações, por um lado, e emoções primárias, por outro” (p. 149). Já não dependem, somente de circuitos neuronais primários do sistema límbico mas, também, de circuitos neuronais pertencentes aos repertórios primário e secundário do córtex. 51 Os sentimentos de fundo correspondem a “estados corporais de fundo”, ou seja “á nossa imagem da paisagem do corpo quando este não está agitado pela emoção”. Os sentimentos de emoções correspondem Á justaposições de “uma imagem do corpo” abalado pela emoção com “as imagens mentais que iniciaram o ciclo” (p. 159). (DAMÁSIO, 1995, p. 165).
Mas mais importante do que clarificar aqui as noções de emoção e de sentimento é chamar à atenção que numerosos evidências empíricas52 vieram demonstrar que as ideias de que as emoções e a razão se localizam em diferentes regiões do cérebro e/ou podem ser completamente separadas, carece de fundamento científico. Segundo DAMÁSIO (1995) todas as evidências actualmente disponíveis sugerem a existência de um conjunto de sistemas no cérebro humano consistentemente dedicados ao “processo de pensamento orientado para determinado fim, (…) raciocínio, e à selecção de uma resposta, (…) tomada de decisão, com um ênfase especial sobre o domínio pessoal e social” e esse mesmo conjunto de sistemas “está também envolvido nas emoções e nos sentimentos” (p. 88).
2.2.3. O corpo, a mente e a incorporação da mente
Como já assinalámos, o dualismo ontológico53, tem uma tradição muito longa na história do pensamento norte/ocidental. A generalidade das correntes epistemológicas racionalistas de raiz platónica, aristotelista, cartesiana e neocartesina são dualistas. Por outro lado, as correntes de raiz empiro-positivista, embora aparentemente monistas, são muitas vezes dualistas “por defeito” (EDELMAN, 1995; FREITAS, 1999). Centrandonos, somente, nas correntes de pensamento e teorias existentes no seio da ciência que, no nosso século, tentou chamar a si, como objecto de estudo, as questões da mente – a Psicologia – fácil será concluirmos que o panorama não era muito diferente até, aproximadamente aos início dos anos 40. De facto, a generalidade das correntes behavioristas (que, até essa data, dominaram o panorama da psicologia), ignorando a intencionalidade”, recusam o espírito como “objecto científico” e ficam, por isso, “com uma ponta solta” (EDELMAN, 1995, p. 28). A ideia do cérebro como “caixa negra”, acompanhada da recomendação de que a especulação sobre o que lá se passa é perda de tempo, pois controlando a relação entre os estímulos e os
52 Provenientes do re-estudo de intrigantes casos clássicos (como o de Phineas Gag), da
análise dos resultados de certas intervenções cirúrgicas e da constatação da ocorrência
de certos padrões de perturbação em certos tipos de doentes mentais.
53 Separação entre corpo e mente.
comportamentos é possível investigar, concluir, generalizar, teorizar, ensinar e formar, constitui-se como um programa de má memória e muito discutíveis resultados. Por outro lado, muitas correntes alternativas, não sendo “dualistas da substância, são, no entanto, dualistas das propriedades” (EDELMAN, 1995, p. 28).
Só a partir dos anos 40 é que podemos falar daquilo que alguns designam por “ciências cognitivas” (EDELMAN, 1995) ou “ciências e tecnologias da cognição” (VARELA, sem data) que representam “um esforço interdisciplinar que se aproxima da psicologia, da cibernética e da inteligência artificial, de alguns aspectos de neurobiologia e da linguística, e da filosofia” (EDELMAN, 1995, p. 30). Tal, é também a convicção de VARELA (sem data) que refere como principais disciplinas que contribuem para as “ciências e tecnologia da cognição” a psicologia cognitiva, as neurociências, a inteligência artificial, a linguística e a epistemologia. É, exactamente, neste âmbito que surge nos EUA um movimento que, vindo a tomar o nome de cibernética54. “O objectivo do movimento cibernético resumia-se à criação de uma ciência do espírito.” (VARELA, sem data, p. 25). Os seus frutos, são por demais evidentes tanto no campo da ciência teórica – criação de metadisciplinas como o são a teoria dos sistemas e a teoria da comunicação – e da tecnologia – invenção dos computadores e dos robots. Por outro lado, embora eventualmente com excessos e desvios, a cibernética abriu caminho a novas concepções de cérebro e de mente. Segundo VARELA (sem data), se o movimento cibernético dos anos 40 constitui a 1.ª fase das CTC (Ciências e Tecnologias da Cognição), a segunda fase das CTC remonta aos anos 50, mais exactamente a 1956, e corresponde ao movimento funcionalista de concepção do cérebro como computador e da cognição como computação de “representações simbólicas”55.
54 Que teve como principais mentores John von Neumann, Norbert Wiener, Alan Turing e,
exactamente, Warren McCulloch. A estes nomes vieram a juntar-se outros, de que será
justo salientar o nome de von Foester, que constituíram aquilo que viria a ser designado
por cibernética de 2.ª ordem. 55 A que estão associados nomes como os de Herbert Simon, Noam Chomsky, Marvin
Minsky e John McCarthy.
Toma forma o chamado movimento cognitivista que, até aos nossos dias, tem dominado e contínua a dominar vários ramos das ciências humanas e sociais, como a psicologia, a educação e, até, a linguística. Uma das mais importantes consequências positivas do chamado movimento cognitivista (ou cognitivismo) foi, sem dúvida, ter contribuído para uma clara e definitiva subalternização do behaviorismo. A sua consequência negativa mais destacada foi, provavelmente, ter substituído a velha, autoritária e cientificamente descabida ideia da mente como “caixa negra” (herdeira da velha ideia empirista do cérebro como “balde vazio” ou “tabula rasa”) pela atractiva, mas não menos perigosa, ideia do cérebro como computador e da cognição como computação. A “iniciativa cognitivista repousa sobre um conjunto de asserções não verificadas” e faz “uma referência meramente marginal aos fundamentos biológicos subjacentes aos mecanismos que pretende explicar” (EDELMAN,1995, p. 31), donde resulta “uma perversão científica tão grande como o behaviorismo” (p. 31-32). No mesmo sentido vai a crítica de VARELA (sem data) ao afirmar que “as arquitecturas cognitivistas” se afastaram “demasiado das raízes biológicas” (op. cit., p. 45) e que “certos dados adquiridos para os neurobiólogos” infelizmente “nunca apareceram no paradigma cognitivista” (p. 46).
No que à educação diz respeito, se é verdade que o behaviorismo de raiz empiropositivista inspirou práticas desadequadas, tudo parece indicar que os programas de inspiração cognitivista não conduziram a melhores resultados. Embora nos finais dos anos 50 tenham surgido algumas novas tendências (esboço do que viria a ser designado por conexionismo) com grande potencial heurístico, só a partir dos anos 70, com as noções de auto-organização e emergência (já atrás referidas) é que as ciências da cognição experimentaram nova impulso e começaram a libertar-se das amarras do cognitivismo. Mais recentemente ainda, já no decorrer dos anos 80 e, particularmente, dos anos 90, as ciências cognitivas passaram a sofrer um poderoso impulso vindo das contribuições das neurociências, cujos traços gerais tenho vindo a realçar. Uma das mais nucleares destas contribuições é a ideia de incorporação da mente, hoje partilhada por vários autores de diversos domínios científicos56
“Não é apenas a separação entre a mente e cérebro que é um mito. É provável que a separação entre mente e corpo não seja menos fictícia. A mente encontra-se incorporada, em toda a acepção da palavra, e não apenas cerebralizada” (DAMÁSIO, 1995, p. 133).
Em suma, parece poder afirmar-se que (FREITAS, 1999): toda a tentativa de separar completamente as emoções e os sentimentos da razão carecem de fundamento científico; as tentativas para “desincorporar” as emoções e sentimentos, por um lado, e os raciocínios, por outro, não são suportadas pelas mais recentes evidências da neurobiologia; as tomadas de decisão em contextos pessoais e sociais parecem envolver tanto os raciocínios como as emoções e os sentimentos.
2.2.4. Uma perspectiva científica da consciência
De acordo com EDELMAN (1995) e DAMÁSIO (1995), torna-se necessário relembrar que se podem distinguir no sistema nervoso central “dois tipos de organização” que são “importantes para a compreensão do modo como a consciência evoluiu” (EDELMAN, 1995, p. 171). Esses dois tipos de organização são: o tronco cerebral e sistema límbico, por um lado, e
o chamado sistema corticotalâmico (córtex cerebral e tálamo), por outro.
O primeiro destes sistemas está relacionado com os comportamentos de sobrevivência, de defesa, de consumo e do instinto sexual, e encontra-se “ligado de forma extensa a muitos órgãos diferentes, ao sistema endócrino e ao sistema nervoso autónomo” (EDELMAN, 1995, p. 172). Trata-se de “um sistema de valores” (a que já atrás se fez referência), constituído por mapas neuronais extensos e pormenorizados, estabilizados selectivamente mais cedo, em termos de processo evolutivo (EDELMAN, 195 p.172). O segundo sistema citado é evolutivamente mais recente e, também, sinapticamente
56 De que se poderão citar Putnam, Millikan, Langacker, Lakoff, Johnson e Searle (para além, obviamente, do próprio Edelman e de Maturana e Varela).
mais plástico. Está mais relacionado com a plasticidade das coordenações sensório-motoras, ou seja, com manutenção da autopoiesis face ás perturbações do meio. É, pois também, o sistema mais directamente relacionado com os comportamentos ontogénicos, nomeadamente os linguísticos. No Homem este sistema sofreu maior desenvolvimento (particularmente em termos de neocórtex) o que, como veremos é de importância decisiva par a problemática da consciência.
É com base na compreensão não só da natureza diferente destes dois sistemas, mas essencialmente da forma como se interligam que Edelman aborda o problema da emergência da consciência. Para o fazer começa por estabelecer um clara distinção entre consciência primária e consciência elaborada57. Damásio (1995), embora concordando com a base neural da consciência postulada por Edelman, demarca-se de certos aspectos concretos da sua teorização58.
Consciência primária. Para Edelman, a emergência da chamada consciência primária está ligada ao “desenvolvimento evolutivo de criar uma cena” (EDELMAN, 1995, p. 174). Mas, o que é uma cena?
“um conjunto de categorizações de acontecimentos familiares e não familiares, ordenado em termos espacio-temporais podendo ter ou não ligações físicas ou causais necessárias com outros acontecimentos da mesma cena” (EDELMAN, 1995, p. 173).
A capacidade de gerar cenas e, portanto, a emergência de uma consciência primária está relacionada com a ocorrência de três desenvolvimentos evolutivos (EDELMAN, 1995, p. 174): a) o primeiro é o desenvolvimento do sistema cortical que possibilitando a emergência de funções conceptuais permitiu igualmente “que elas fossem fortemente ligadas ao sistema límbico, alargando as capacidades já existentes para levar
57 DAMÁSIO (1995) não estabelece tão nítida diferença entre uma consciência primária,
partilhada com outros animais, e uma consciência secundária, exclusivamente humana,
mas exprime-se, contudo, em termos equivalentes, quando diferencia entre self
biológico e self neural. 58 Contudo, as críticas de Damásio não se nos afiguram suficientemente consistentes, por
não respeitarem o verdadeiro sentido da opinião de Edelman (FREITAS, 1999).
a cabo as aprendizagens”59; b) o segundo é o “desenvolvimento de um novo tipo de memória” baseado na ligação atrás citada, a memória de “valor-categoria”, que “carrega” as aprendizagens conceptuais de valor biológico, fazendo com que elas ocorram, pois, em termos de interacções mútuas entre os dois sistemas atrás citados; c) o terceiro desenvolvimento evolutivo é o estabelecimento de “um circuito reentrante especial” que permite “a contínua comunicação entre a memória de valor-categoria e as cartografias globais em curso, relativas à categorização perceptiva em tempo real”. Materializa-se, assim, o que Edelman designa por bootstrapping perceptivo, que permite que um animal com sistema cortical e com consciência primária possa formar uma cena com objectos e acontecimentos que não estando relacionados de forma causal, ele consegue interligar através da memória da sua experiência anterior, carregada de valor biológico. A consciência primária é, “individual”, “contínua” mas “alterável” e “intencional” (Edelman, 1995, p. 177), mas é limitada, trata-se de “uma espécie de ‘memória do presente’.” (Edelman, 1995, p. 176). Para
o citado autor, a generalidade dos animais corticados têm ou podem ter consciência primária. Teremos, aqui que revisitar o esquema da figura 3, pois estamos exactamente localizados no meio (entre a base e o topo).
Consciência secundária ou elaborada. Passemos, agora, a algumas considerações sobre a chamada consciência secundária ou elaborada. Para Edelman, a consciência elaborada corresponderá a estarmos “conscientes de ser conscientes” (EDELMAN, 1995, p. 190). Assim, a consciência elaborada assenta numa “noção explícita ou um conceito de um eu pessoal” que lhe permite “modelar o passado ou o futuro como fazendo parte de uma cena conjunta”. Convém aqui referir que, ao afirmar-se que um animal corticado não humano não maneja o passado e o futuro não se quer dizer que ele não possua memória de longo prazo e não actue com base nela. Mas antes que “não pode ter consciência dessa memória ou planear um futuro extenso para si próprio baseado nela” (EDELMAN, 1995, p. 178). Um
59 Edelman chama à atenção para o facto de animais sem comportamento consciente realizarem aprendizagens, mas realça a grande diferença entre tais aprendizagens e as aprendizagens em animais com sistema cortical.
exemplo concreto ajudará a compreender melhor esta ideia. Com certeza que um qualquer predador, quando caça, se serve da sua memória de longo prazo e experimenta prazer ao satisfazer as suas necessidades alimentares. Contudo, não poderá, com certeza, fazer nada parecido com o que nós fazemos quando recordamos a maravilhosa viagem realizada ano passado ou planeada para as próximas férias.
A consciência elaborada será, assim, tipicamente humana e estará relacionada com a nossa aquisição evolutiva da linguagem e o nosso viver em linguagem60 (MATURANA & VARELA, 1973, 1990; VARELA, 1989; DAMÁSIO, 1995; EDELMAN, 1995). É, então, aí que a consciência elaborada se carrega de intencionalidade, de subjectividade. Assim, embora o Homem não seja o único animal que possui domínio linguístico61, o domínio linguístico humano tem características absolutamente excepcionais. O fundamental no caso humano é que
“o observador vê que as descrições podem ser feitas tratando outras descrições como se fossem objectos ou elementos do domínio das interacções. Quer dizer, o domínio linguístico passa a ser parte do meio de interacções possíveis (p. 181).
O aparecimento evolutivo da consciência elaborada tem que ser contextualizado no âmbito da evolução de (DAMÁSIO, 1995, p. 184): a) “memórias conceptuais ricas nos primatas”, que ligadas por circuitos reentrantes aos centros de memória “valor-categoria” e às áreas de categorização perceptiva em tempo real, dão forma à chamada consciência primária, enquanto capacidade de construção de cenas; b) “capacidades fonológicas e regiões cerebrais especiais para a produção, ordenamento e memória dos sons da linguagem nos hominídeos”.
60 Quando um organismo possui um sistema nervoso “tão rico e tão vasto” como o Homem “os seus domínios de interacção permitem que se gerem novos fenómenos, ao permitir novas dimensões do acoplamento estrutural” (MATURANA & VARELA; 1990, p. 196).
61 Se bem que os chimpanzés, por exemplo, se revelem capazes de utilizar certas formas limitadas de linguagem, havendo a registar experiências em que, dominando uma linguagem gestual, inventaram gestos para designar objectos ou fenómenos para os quais, até ao momento, não haviam aprendido forma de designar.
Segundo a teoria epigenética da fala de Edelman, “a aquisição da fala exige a existência da consciência primária” (Edelman, 1995, p. 183) e “o desenvolvimento de uma sintaxe e gramática ricas é altamente improvável sem a evolução prévia de um meio neuronal de criação de conceitos” (op. cit., p. 183-184). A emergência evolutiva da fala não pode ser explicada em termos meramente genéticos, mas antes em termos epigenéticos, o que “significa abandonar qualquer noção de um dispositivo de aquisição da linguagem geneticamente programado”.
Ainda segundo EDELMAN (1995) a fonologia deverá ter emergido numa qualquer sociedade humana primitiva, em que os elementos que a integravam, com base nas suas capacidades neurais de criação de conceitos em termos de consciência primária, passaram a usar “frases primitivas (semelhantes aos dialectos crioulos actuais) como grandes unidades de troca” (EDELMAN, 1995, p. 187), ou seja, como unidades de interacção comunicativa linguística. As frases primitivas atrás citadas relacionavam sons (nomes) com objectos e acções, gerando os primórdios de uma semântica. Para que tal fosse possível teve que ocorrer o desenvolvimento dos expedientes anatómicos incluídos no andar supraglótico, que estão relacionados com a emissão mecânica de sons, O posterior desenvolvimento das áreas de Broca e Wernicke terá permitido um “ordenamento sensitivo-motor mais sofisticado” que “constitui a base de uma verdadeira sintaxe” (p. 188). Assim, para EDELMAN (1995), a aquisição da fala foi “surgindo epigeneticamente por uma determinada ordem” em que a semântica precede a sintaxe (p. 188): a) primeiro “as capacidades fonológicas foram ligadas aos conceitos e aos gestos através da aprendizagem” o que favoreceu “o desenvolvimento da semântica”; b) em seguida o desenvolvimento da semântica “facilitou a acumulação de um léxico: palavras e frases com significado”; c) depois, terá emergido a sintaxe “ligando a aprendizagem conceptual pré-existente e a aprendizagem lexical”.
Este conjunto de ocorrências define aquilo o que, segundo Edelman, na base da emergência da consciência elaborada – o bootstrapping semântico. É altura de uma nova e final análise ao esquema da figura 2, pois estamos exactamente localizados no seu topo.
Figura 2. Um novo entendimento dos sistemas vivos e do Homem, enquanto sistema vivo particular.
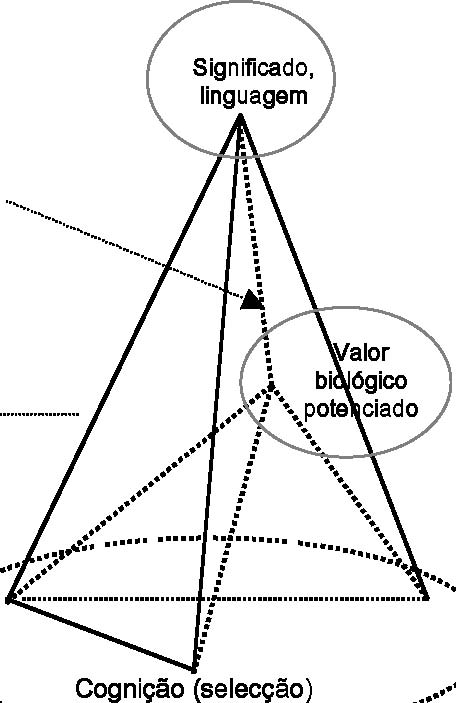
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ligações neurais
com
![]() Consciência primária
Consciência primária
Sistema nervoso sem
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3. Educação/aprendizagem das ciências
Estamos, agora, em condições de, à luz do enquadramento epistemológico atrás esboçado, questionar que modelos de Educação em Ciências e/ou Aprendizagem das Ciências podem ser considerados e quais deverão ser privilegiados e, também, se devemos mais falar de ensino ou de aprendizagem (das ciências, nomeadamente).
3.1. Perspectivas de educação em ciências
Partindo de uma classificação de CACHAPUZ et al. (2002) com que, na generalidade, concordamos, defendemos que, contudo:
a) o panorama da Educação em Ciências e da evolução das perspectivas do ensino/aprendizagem das ciências é mais complexo do que o que emerge da referida sistematização;
b) a Educação em Ciências só pode ser discutida no âmbito do que do que deve ser a educação do futuro, aproximando-se e estabelecendo diálogos inter e transdisciplinares com outros tipos e perspectivas educativas;
c) a Educação em Ciências deve ser reorientada numa lógica de Educação para a Sustentabilidade, que, para alem do dialogo interdisciplinar implica um dialogo intercultural com outros saberes.
CACHAPUZ et al. (2002) referem quatro grandes tipos de perspectivas de “ensino das ciências” – “ensino por transmissão”, “ensino por descoberta”, “ensino para a mudança conceptual” e “ensino por pesquisa” – e apresentam um quadro resumo dessas quatro perspectivas
(p. 142-143), “construído a partir de alguns indicadores, susceptíveis de serem lidos de forma comparativa” (p. 140-141): “finalidade”; “vertente epistemológica”; “vertente de aprendizagem”; “papel do aluno”; “papel do professor”; “caracterização didáctica-pedagógica”.
No esquema da figura 3, procuramos ilustrar, de forma sinóptica, a categorização por nós proposta, bem como as bases filosófico-epistemológicas e psicológicas gerais, que subjazem a cada perspectiva.
Figura 3. Categorização de perspectivas de Educação (em ciências, em particular).
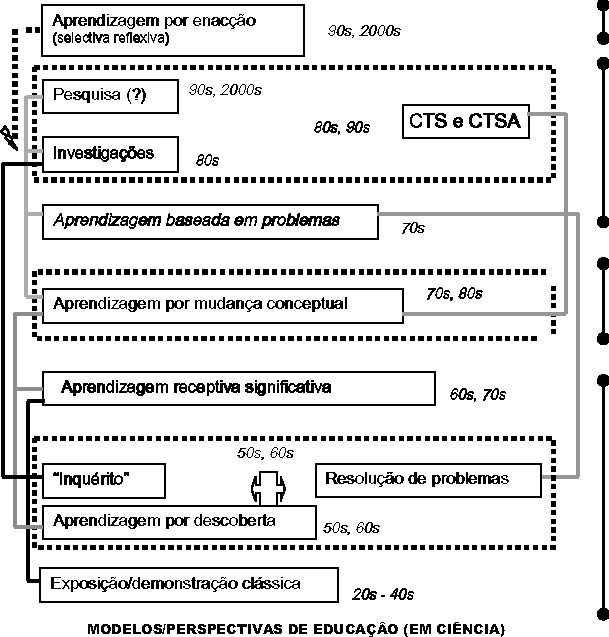
|
|
|---|
|
|
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOEPISTEMOLÓGICO-PSICOLÓGICOS
Como se pode observar, para além da recategorização das perspectivas referidas por CACHAPUZ et al. (2002) – com inclusão de variantes não explicitamente considerada por estes autores, e inter-relações complexas em diversas perspectivas – propomos uma nova perspectiva de educação/aprendizagem (em geral, e das ciências, em particular) que chamamos de “aprendizagem por enação” e que reclamamos como baseada em conceitualizações pós-modernas de ciência (que, numa perspectiva inter-cultural, consideram a sua interacção com outras formas de saber) e abordagens epistemológicas biologicamente fundamentadas, enatistas/neo-conexionistas (pós-construtivistas e pós-cognitivistas).
De entre vários aspectos que uma análise mais exaustiva do esquema nos permitiria62 podemos verificar: a) É verdade que sempre se verificou uma oscilação entre ensino (lado do professor) e aprendizagem (lado do aluno) com autores a privilegiarem
62 Terão que ficar para posterior escrito, neste momento em preparação.
ora uma ora outra das designações e autores a considerarem-nas duas faces da mesma moeda (daí, a conhecida contracção “ensino-aprendizagem”). Por tudo o que se disse, consideramos que, cada vez mais haverá que ver a educação pelo lado da aprendizagem (encarando o ensino como uma “perturbação” sujeita a selecção por parte de quem aprende). Significa isto que o eixo da educação (nomeadamente, das ciências) deverá ser mais o da aprendizagem que o do ensino.
b) Algumas das perspectivas consideradas, têm vocação mais inter ou transdisciplinar e outras, uma vocação mais amarrada às ciências (nomeadamente, ciências fisio-químicas e naturais). Embora a especificidade de temáticas, nomeadamente, a certos níveis de profundidade, impliquem formas particulares de implementação de situações de aprendizagem, a educação do futuro exige, mais do que nunca, construção de territórios partilhados, em termos não só de conteúdos, como de competências. A educação complexa é, por definição uma educação global.
c) Algumas perspectivas, num certo momento aparentemente abandonadas, ressurgem com novos contornos e distintos enquadramentos teórico-epistemológicos (caso da exposição/demonstração e aprendizagem receptiva significativa; inquérito e investigações; solução de problemas e aprendizagem baseada em problemas; etc.) e, é bem possível que voltem futuramente a ressurgir, no contexto de aprendizagens complexas que apelam a uma larga diversidade metodológica.
d) Uma mesma perspectiva pode ser influenciada (e, como tal implementada) com base em pressupostos epistemológicos diferentes. É o caso do chamado “inquérito” que muitos e nomeadamente, CACHAPUZ et al. (2002) consideram como filiado numa epistemologia empiropositivista e nós defendemos como realidade complexa que conjugou abordagens empiropositivistas, com abordagens racionalistas de tipo popperiano ou mesmo pós-popperiano.
e) A generalidade das perspectivas consideradas, nunca combateu em toda a escala o âmago da nossa tradição científica (nomeadamente, a questão do dualismo), nem superou o enquadramento cognitivista e/ou construtivista (mesmo na sua modalidade sócio-construtivista). Mesmo a perspectiva de “ensino por pesquisa” defendida por CACHAPUZ et al. (2002) que, na generalidade dos descritores de características, se aproxima do que definimos como “aprendizagem por enacção”, não assume, em termos teóricas, qualquer ruptura com o construtivismo/cognitivismo racionalista, antes parecendo neles se filiar.
f) O enatismo/neo-conexismo rompe com alguns aspectos centrais da nova “hidra de sete cabeças” – o “construtivismo”/”cognitivismo” racionalista
– que sucedeu à hidra do empiropositivismo, e pode dar um importante contributo não só a uma nova Educação em Ciências mas, também, a uma nova Educação, em geral. É por isso que – embora, como já se assinalou, a grande maioria dos descritores mais objectivos do Ensino por Pesquisa coincidam com os da Aprendizagem por Enacção – consideramos preferível falar de “aprendizagem” e não de “ensino” e não restringir o processo “à pesquisa”, mas alargá-lo à (en)acção, que opera por selecção recorrendo à “reflexão”.
g) A Aprendizagem por Enacção parte da ideia de que se “agir é conhecer” e “conhecer é agir” e se todo o saber é “ontológico” uma perspectiva de aprendizagem por enacção se baseia no pressuposto que aprender é fazer emergir um mundo. Neste sentido, aprende-se ciência através do viver processos de actividade científica, mesmo que simulada ou simplificada. È ciência não só fazendo experiências, mas analisando resultados de experiências, bem como suas consequências e causas, e vivendo outras numerosas dinâmicas da actividade científica que não são experimentação. Aprende-se ciências, também, pela vivência de outras actividades humanas e/ou partilha de outros saberes. Uma ecologia de saberes é fundamental, não só para a aprendizagem das ciências, mas para um novo processo educativo.
3.2. Esboço de bases de uma nova conceptualização da aprendizagem (das ciências, em particular)
Com base na propostas avançada por um investigador japonês (que, nos parece ser um dos primeiros a tentar incorporar um olhar das neurociências na construção de um novo pensamento educativo), podemos esboçar uma inter-relação entre a diferenciação do sistema nervoso, como um sistema selectivo de reconhecimento, e os processos de aprendizagem tanto escolar como não escolar, e formal, como não formal e informal (figura 4).
Figura 4. Incorporando uma dimensão neurobiológica na compreensão dos fenómenos educativos (adaptado de Koizumi, Hideaki, 2004).
Educação em ciências
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
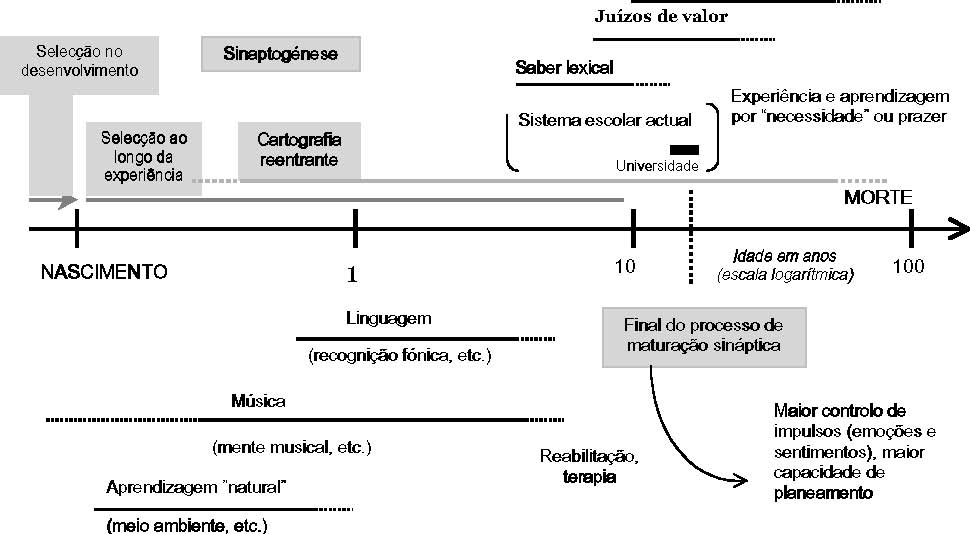
Tendo por base uma escala logarítmica do nascimento à morte, temos, em cima, uma representação esquemática da sinaptogénese, desde a selecção no desenvolvimento63, até à selecção ao longo da experiência, com a “poda” sinapses. No esquema está representado o período do sistema escolar actual, promotor de aprendizagens escolares integradas num qualquer tipo de currículo e, mais em baixo, o que KOIZUMI (2004) apelida de um “currículo natural”, ou seja, uma aprendizagem mais espontânea, em linguagem, num mundo de acoplamentos estruturais múltiplos. Esta aprendizagem começa, obviamente, muito cedo: a musical, por exemplo, começaria no primeiro ano de vida KOIZUMI (2004) mas, segundo outros autores, pode até começar dentro do útero materno. De acordo com evidências empíricas recentes, o processo da maturação do
63 Dentro do ventre materno.
cérebro, só estará completo aos vinte e cinco anos. O referido processo de maturação (“poda” de sinapses) progride de trás para a frente e de dentro para fora, ou seja, das partes mais antigas e mais básicas do cérebro, para as partes mais ligadas ao planeamento (o neocortex). Portanto, queiramos ou não, na universidade ainda temos alunos onde o travar dos impulsos é dificultado por razões de natureza biológica (e, mais especificamente, neurobiológica), o que determina dificuldades nas actividades de planeamento.
No esquema, a educação em ciências (tal como a educação, em geral) pode e deve começar desde muito cedo, sob formas diferentes, e incluindo amplas dinâmicas não escolares. Constitui-se, assim, como uma rede de comunicações onde o saber científico mais “puro” coexiste com outros saberes e culturas (familiares, comunitárias, etc.) presentes nas histórias infantis, nos jogos, primeiro, nos novos brinquedos “científico-tecnológicos”, etc. É indiscutível que, depois, ao longo de toda a escolaridade, há sempre uma “oferta científica” ampla, fora da escola, que coexiste com outras “ofertas”, de outros saberes e outras expressões do que é a globalidade humana. E, se aceitarmos que a aprendizagem é complexa e selectiva, a escola ocupa, somente, o lugar e o papel de uma de várias “perturbações”, que será tanto mais relevante quanto se insira numa lógica de aprendizagem de todos com todos e ao longo de toda a vida.
Aprender, em conjunto, como será possível construir sociedades mais sustentáveis será pois, e antes do mais, favorecer contextos e vivências integradas de uma ampla ecologia de saberes que favoreçam a emergência selectiva de novas formas de entender e lidar com o mundo natural a que o Homem pertence, mas de que tanto se afastou. Superar a pesada herança dualista e reducionista que a ciência moderna arrastou para a educação, fomentar visões holísiticas e abertas de futuro, favorecer a formação de um pensamento crítico e complexo, promover a mais ampla participação de todos na definição e avaliação dos caminhos a adoptar e na resolução de problemas comunitários reais das sociedades actuais, etc., são pois alguns dos principais desafios que a educação, em geral, e a educação científica, em particular, têm que enfrentar.
Caminhar neste sentido exige rever muitas das actuais teorias e práticas dominantes no seio da educação (educação em ciências, nomeadamente).
3.3. Reflectindo sobre alguns mitos da educação em ciências
Neste contexto, tendo em conta a análise das características da “ciência moderna” (ponto 1), e na perspectiva de uma necessária transformação da ciência (que, em certos sectores, já está ocorrendo), numa lógica de construção de sociedades mais sustentáveis, deveremos passar de revista alguns dos que, parecendo ser aspectos da máxima relevância na Educação em Ciências, se podem constituir como perigosas mistificações. Os aspectos que, em seguida, se referem são somente alguns dos mais básicos e principais, e não todos os que poderão/deverão ser considerados.
3.3.1. A ciência como forma de domínio do mundo (e da natureza)
Como já se assinalou, a “ciência moderna” nasceu com a pretensão de dominar a natureza64, como, sem rebuço, Bacon o afirma:
“Permitamos apenas que o género humano recobre os seus direitos sobre a natureza, que lhe pertence por dom divino, e entreguemos-lhe o seu poder, e uma recta razão e uma sábia religião regularão o seu exercício. (Bacon, sem data, p. 106).
E, com a constituição do “sistema-mundo moderno/colonial” (WALLERSTEIN, 1979 e MIGNOLO, 2000, citados por SANTOS, 2005), “a construção da natureza como algo exterior à sociedade (…) obedeceu às exigências da constituição do novo sistema económico mundial, centrado na exploração intensiva dos recursos” (SANTOS, 2005, p. 26). Como o assinala o mesmo autor o selvagem é visto como inferior e a natureza como
64 E, como a frase de Bacon também ilustra, não é a ciência em si que postula esse direito do Homem sobre a natureza, não! Esse direito vem da interpretação que a estrutura temporal da Igreja, abusivamente, faz de um eventual desejo divino, interpretação que a ciência, por convicção ou conveniência, adopta.
exterior e, como o exterior não pertence e não é visto como igual, logo se torna inferior, também.
“A violência civilizadora que se exerce sobre os selvagens por via da destruição dos conhecimentos nativos tradicionais e pela inculcação de conhecimentos “verdadeiros” exerce-se, no caso da natureza, pela sua transformação em recurso natural incondicionalmente disponível. (…). (SANTOS et al., 2005).
O selvagem e o natural são, pois, “duas faces da mesma moeda” e “domesticar a ‘natureza selvagem’, convertendo-a num recurso natural” torna-se o desígnio de um sistema ideológico de que a ciência moderna faz parte (SANTOS et al., 2005).
Ora esta ideia de domínio da natureza está, infelizmente, ainda demasiado presente no discurso dominante da Ciência e da Educação em Ciências. Os êxitos da ciência moderna são, de uma forma ou outra, apresentados como o sucesso da “hercúlea” vontade humana sobre a “selvagem” e “brutal” natureza. São os diques, paredões ou esporões, com que o Homem conquista terras ao mar ou tenta limitar a sua dinâmica natural; as barragens com que domestica os rios selvagens, travando cheias e aproveitando a força das suas águas para a produção de electricidade; os pesticidas com que “derrota” as pragas naturais; as farinhas elaboradas à base de produtos animais que, por desejo humano, transformariam os herbívoros em “semi-carnívoros”; os organismos geneticamente modificados que vencerão as determinísticas leis da genética; etc., etc. No elogio do seu poder, a ciência/tecnologia e, por vezes, a educação em ciências, “esquecem-se” de falar das consequências nefastas de todo este domínio da “selvagem” natureza; e, quando o fazem, é para logo de seguida elogiarem como a ciência e a tecnologia, facilmente, corrigem os erros que cometem. Esquecem-se, muitas vezes, também, tanto os poderosos interesses económicos que estão por trás de cada uma das tecnologias que tornam possível esse “domínio” da natureza, como que os proveitos decorrentes da sua aplicação estão cada vez mais diferencialmente distribuídos, aumentando o fosso entre regiões ricas e pobres e entre pobres e ricos, em cada uma destas regiões.
A ciência e a educação em ciências não podem continuar a praticar e promover a exterioridade e inferioridade da natureza, com o elogio da ciência e da tecnologia como instrumentos de domesticação do “selvagem”, mas antes reconciliar-se com a natureza procurando, de alguma forma, aprender com a sua dinâmica não linear e emergente.
3.3.2. A ciência como a melhor forma (senão única) de pensar
O elogio de uma ciência e uma tecnologia dominadoras da natureza assenta na convicção de que a ciência (em retroalimentação com a tecnologia) é a melhor (quando não a única) forma de pensar. Contudo, a “diversidade epistemológica do mundo é potencialmente infinita; todos os conhecimentos são contextuais e tanto mais o são quanto se arrogam não sê-lo” (SANTOS et al., 2005, p. 97). A descoberta, pela própria ciência (ou, pelo menos, por largos sectores da ciência), nas três últimas, da auto-reflexividade constitui um importante factor que, contudo, deve não somente servir de base a uma reflexividade interna, centrada sobre si própria, mas antes à “descoberta da hetero-referencialidade” e, como tal, ao reconhecimento da diversidade epistemológica do mundo (SANTOS et al., 2005). Tomemos como exemplo, o elogio dos novos medicamentos (e da tecnologia que torna possível o seu fabrico), produzidos pela farmacologia capitalista. E, que lugar é dado ao conhecimento tradicional das propriedades medicinais de muitas plantas que está na base desta triunfal actividade da farmacologia moderna? Pequeno ou nulo, até porque, muita da actividade dos grandes grupos farmacêuticos, se apoia, em parte, em actividades de biopirataria legalizada (SANTOS et al., 2005). Contudo, “o lucro resultante da utilização do conhecimento tradicional na pesquisa” é enorme, podendo ser com facilidade medido “pelo montante financeiro anual do mercado de fármacos americano produzidos a partir de medicinas tradicionais – 32 milhões de dólares (Banco Mundial, 2000). E, até talvez tivéssemos podido beneficiar mais cedo e melhor dos conhecimentos tradicionais, se não fosse a saga “epistemicida” com que a “ciência moderna” os perseguiu e destruiu (apelidando-os de crenças irracionais, feitiçarias ou práticas curandeiras), ao mesmo tempo que, para assegurar um certo tipo de crescimento económico e de desenvolvimento65, destruía o património natural em que esse saber tradicional estava fundado. O que se passa com a tecnologia de aperfeiçoamento de sementes e seu patenteamento, por parte de meia dúzia de grandes multinacionais, não é muito diferente. “O trabalho de aperfeiçoamento de sementes, acumulado pelos camponeses, ao longo de centenas ou milhares de anos, não é nunca reconhecido, e muito menos pago (Posey, 1983, 1999; Brush e Stabinsky, 1996; Cleveland e Murray, 1997; Edwards et al., 1997; Battiste e Youngblood, 2000)” (SANTOS et al., 2005, p. 68-69).
Uma ciência e nova educação em ciências pós-modernas tem que, claramente, substituir uma lógica de monocultura do saber científico por uma lógica de ecologia de saberes (SANTOS et al., 2005), ou seja, promover “um novo tipo de relacionamento entre o saber científico e outros saberes”, o que não significa “atribuir igual validade a todos os conhecimentos, mas antes permitir uma discussão pragmática entre critérios alternativos de validade que não desqualifique à partida tudo o que não cabe no cânone epistemológico da ciência moderna” (p. 100).
3.3.3. A ciência como critério de legitimação indiscutível
A monocultura do saber científico inclui o pressuposto de que só é legítimo (ou pelo menos, mais legítimo), aquilo que a ciência reconhece (ou se diz que reconhece) como tal. Assim, tudo aquilo que se faz, consome ou divulga, deve ter o rótulo de cientificamente comprovado. Tal mito, vai desde o uso e abuso da rotulagem de “cientificamente comprovado” (em produtos alimentares, cosmética e perfumes, por exemplo), até à tentativa de substituir as opções políticas pelas opções científicas ou, se preferirmos, legitimar uma certa opção política com base, exclusivamente, numa hipotética verdade científica. O que aconteceu com a co-incineração é disto um exemplo de excelência. Acreditou-se que uma comissão composta por três cientistas, de reconhecida competência, e chamada de independente,
65 Hoje já claramente reconhecido como insustentável.
produzisse um relatório que servisse, directamente, de base a uma decisão do poder executivo. Mas as coisas não aconteceram como se esperava. Não só surgiram outras opiniões científicas, que tentavam negar a validade do relatório da comissão (e, como tal, a decisão que ele legitimava), como se discutiu uma eventual vinculação político-partidária de uns e outros cientistas. E o que está em causa, não é a “justeza”, em geral, desta ou daquela opção66, mas antes a não redução da opção política a uma opção científica potencialmente legitimadora.
Cada vez mais se torna claro, e aceite por largos sectores de cientistas, que ciência produz, essencialmente, cenários, apoiados em dados observacionais, experimentais ou simplesmente teóricos que, embora enquadrados em teorias científicas partilhadas, se baseiam, muitas vezes, noutros aspectos menos “puros” (convicções ideológicas, políticas, religiosas, etc. e/ou interesses económicos). A ciência não produz verdades inquestionáveis legitimadoras, só por si, tanto de opções individuais de comportamento e acção, como de complexas decisões colectivas de carácter socioeconómico e ambiental.
3.3.4. A ciência (e a tecnologia) como garantes exclusivos de um presente de
melhor qualidade e futuro mais sustentável
Um outro mito muito propalado é o de que só a ciência e a tecnologia, numa lógica de globalização, são capazes de garantir uma melhor qualidade de vida no presente e criar condições para uma a construção de um futuro melhor e mais sustentável. Ora, se é verdade que a ciência e a tecnologia67 são indispensáveis na criação de alternativas de sustentabilidade, não é
66 Como a história recente está a provar, talvez a solução da co-incineração até
tivesse/tenha que ser adoptada, num certo momento e/ou contexto, mas tão somente
porque é a solução possível de, nesse momento, resolver um problema maior do que
alguns problemas que possa gerar e não porque seja a única politicamente correcta
porque cientificamente correcta. 67 Que, na sua orientação passada e, mesmo presente, de privilegiar o domínio da natureza,
foram e são ainda, parte da raiz de alguns dos nossos problemas actuais (apesar dos
inegáveis sucessos a que também proporcionaram).
menos verdade que, para cumprirem tal papel, elas têm que renovar-se. Uma parte essencial dessa renovação passa pelo reconhecimento do papel que outros saberes e formas de expressão cultural humana têm na construção de sociedades mais sustentáveis. Mas não só, passa, também, pelo reconhecimento do papel que outras manifestações de vida (a algumas das quais se podem associar dinâmicas culturais68) têm num mundo mais sustentável. Aprender a colaborar com humildade na invenção desse futuro, ao invés de arrogar-se como definidoras únicas de como ele poderá ser constitui, pois, um desafio essencial para uma ciência e uma tecnologia pós-modernas.
3.3.5. A ciência como “experimentalismo”
A experimentação constitui, de facto, uma importante característica da ciência moderna. Contudo, certas tentativas para supervalorizar a experimentação, em detrimento de outras dimensões actividade científica, assumem-se como um mito que importa relativizar.
Em primeiro lugar, porque a experimentação também faz parte (embora, por vezes, de forma diferente e não sistemática) de outras formas de saber. Em segundo lugar, porque a experimentação (pelo menos nas suas formas de desenho mais clássico) ou não é aplicável a várias realidades e fenómenos, de diversos domínios da actividade científica, ou encontra-se seriamente afectada por limitações de natureza diversa (objectal, instrumental, ética, etc.). Em terceiro lugar (e em directa relação com o que se acaba de se referir), porque se não for devidamente reflectida, a experimentação, como característica de uma “boa ciência”, pode contribuir para cavar o fosso entre ciências “fortes” e “fracas”, perpetuando hierarquias reducionistas. Em quarto lugar, porque, sem análise sistematizada, reflexiva e criativa dos dados obtidos, a experimentação tem um valor muito relativo, tanto na construção do conhecimento científico, em si, como na sua aplicação na construção de sociedades sustentáveis. Em
68 Chimpanzés, gorilas, talvez golfinhos, e talvez, até, muitas outras espécies.
quinto lugar, porque muitas das experimentações que, em contextos educativos mais básicos se podem realizar, correspondem, normalmente, a descontextualizações fenomenológicas e simplificações de causalidade que, só se cruzadas com muita outras experimentações e integradas em modelos de produção de cenários, se revestem de real valor.
Tais aspectos são de particular importância para o que respeita ao ensino das ciências da vida. A noção pós moderna de vida e sistema vivo (que, no ponto 2, se explanou) realça o carácter auto-gerado da fenomenologia biológica. Esta essência da vida não é compatível com uma experimentação reducionista, ao nível celular, dos organismos e, muito menos, dos ecossistemas. O falhanço do fisicismo69, primeiro, e do geneticismo70, mais recentemente, são disto um exemplo claro. As conclusões do Millenium Ecosystem Assessment Synthesis Report (Sarukhán & Whyte, 2005), são também, neste domínio, muito claras: “as mudanças introduzidas nos ecossistemas estão a aumentar, em conformidade, as alterações não lineares nos ecossistemas (incluindo a aceleração de abruptas e potencialmente irreversíveis mudanças) com consequências imprevisíveis no bem-estar humano” (pp. 16-17).
Algumas iniciativas de aparente e voluntariosa valorização da experimentação (nomeadamente as que tiveram expressão curricular na criação das chamadas Técnicas Laboratoriais71), não parecem constituir caminhos profícuos para uma correcta contextualização da experimentação no todo da actividade científica, por um lado, e humana, por outro. Assim, haverá que falar mais da actividade de experimentação como uma, de entre uma de várias, dimensões da actividade científica e de variados tipos e graus de experimentação possíveis, do que de uma única forma estereotipada e sacralizada de experimentação. A experimentação não está, acima da análise reflexiva.
69 Entendido como redução do biológico ao físico-químico.
70 Entendido como redução da fenomenologia biológica às informações contidas no programa genético.
71 Hoje abandonadas, mas que alguns, de várias formas, por vezes, voltam a sugerir.
4. Repensar a educação em ciências, numa lógica de educação para a sustentabilidade
4.1. Uma educação para a sustentabilidade
A necessidade de proceder, a nível mundial, a uma reorientação global da educação, enquanto força motora da construção de sociedades mais sustentáveis, é hoje formalmente reconhecido pela generalidade das nações. A ideia de uma Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) começou a ser popularizada a partir do momento em que o Desenvolvimento Sustentável (DS) foi assumido como meta global na Assembleia Geral das Nações Unidas de 1987 (Hopkins & McKeown, 2002)72. O conceito de EDS (tal como o de DS) foi maturando (entre 87 e 92), tomando forma mais precisa no capítulo 36 “Promoting Education, Public Awareness and Training” da Agenda 21, aprovada na Cimeira da Terra (Rio de Janeiro, 1992), sob a designação “educação para o ambiente e
o desenvolvimento”, e muito ligada a todo o movimento da Educação Ambiental (EA) (Freitas, 2004 a e 2005). Depois de 1992, a designação EDS evoluiu em sede de diversas reuniões e meetings internacionais73. Na Cimeira de Joanesburgo, a EDS é realçada como importante premissa na construção do DS. As Nações Unidas proclamam a Década das NU para a EDS (2005-2014), são produzidos, no contexto internacional e europeu, documentos estratégicos e a UNESCO é designada agência responsável pela sua implementação. Diversos países (nomeadamente, europeus) elaboraram já documentos estratégias de âmbito nacional.
Como já noutros momentos temos afirmado (FREITAS, 2004 a e b; 2005 a e b) a polémica sobre o verdadeiro significado e sentido do que é um desenvolvimento sustentável, ou se preferirmos o debate “desenvolvimento sustentável” versus sociedades sustentáveis, encontra-se em aberto e
72 Contudo, como o assinalam outros autores (Fien & Tilbury, 2002) a ideia de EDS já está de certa forma presente na Estratégia Mundial de Conservação da Natureza, se bem que ainda “amarrada” ao termo Educação Ambiental (EA).
73 E foi mantendo com a EA relações operacionais, de complementaridade, se bem que muitas vezes envoltas de alguma polémica quanto a áreas de abrangência mútua, maior ou menor bondade de cada uma das designações, intencionalidade das propostas de cada uma das perspectivas, etc.
mistura-se com o debate sobre a designação EDS versus EA. Em nossa opinião, debaixo de cada um dos termos encontram-se tendências apoiadas não só numa ou outra das perspectivas extremas a que Caride & Meira, (2004)74 aludem, mas também numa infinidade de cambiantes e recombinantes (FREITAS, 2005 b). Assim, por exemplo, é verdade que assiste, por um lado, a uma clara tentativa de instrumentalização dos termos “sustentável” e “desenvolvimento sustentável”, por parte de sectores neo-liberais, cuja política está, em grande parte, na base da crise em que vivemos. Por outro lado, políticos, empresários, jornalistas, gestores e cidadão comum usam os referidos termos na linguagem diária, ora de forma avulso, ora no contexto da pretensão de legitimar um discurso, uma proposta, uma alternativa. Como reconhece o Relatório da Comissão de Auditoria da Sessão 2004-05, da Câmara dos Comuns (Reino Unido), de 5 de Abril de 2005, devem ser colocadas “reservas acerca do uso inapropriado e, obviamente, o uso exagerado do termo sustentabilidade” (H.C., 2005). Contudo, existem outros entendimentos para os referidos termos e o abandono da luta pela significação destas poderosas designações “fetiche” do nosso tempo servirá, em última instância, para que elas sejam reabsorvidas pela lógica de pensamento dominante que gerou a crise (FREITAS, 2005b).
Não sendo este o momento de proceder à discussão desta problemática, limitar-nos-emos a, a chamar à atenção para o facto de que, ora como observadores, ora como observados, nos envolvemos sistemática e recorrentemente em actos de conhecimento e que “todo o acto de
74 Consideram os referidos autores que a discussão acerca dos conceitos de “desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento humano sustentável”, bem como as “concepções e práticas que se promovem para contrapor a educação ambiental à educação ecológica” ou, mais recentemente, o “deslocar o conceito de educação ambiental pelo de educação para o desenvolvimento sustentável [EDS]” (p. 90), se inscrevem numa velha polémica acerca do entendimento da questão ambiental, surgida durante os trabalhos preparatórios da Conferência de Estocolmo (1972): a) uma perspectiva conservacionista e reducionista (defendida, principalmente, pelos “países desenvolvidos”) que, de acordo com outros autores, designam por tendência “ambientalista”; b) uma perspectiva alternativa (defendida, em grande parte, dos “países em vias de desenvolvimento”), mais integradora, que os mesmos autores designam por tendência “ecologista”.
conhecimento faz surgir um mundo” (MATURANA & VARELA, 1990, p. 31-32). As descrições dominantes produzidas no âmbito do ciência/saber do Norte-Ocidente criaram e continuam “criando um mundo”: de futuro fechado; totalmente regulado pelo mercado; que tem como fim o crescimento económico contínuo, que supostamente melhora a vida de todos, não evitando que haja (como sempre houve, dir-se-á) pobres e ricos, bons e maus, bem e mal sucedidos; onde a ciência e a tecnologia são sacralizadas e veneradas como geradoras de um sempre maior domínio da natureza, etc., etc. Reconhecendo uma parte da crise em que estamos mergulhados e o falhanço de certas formas de acção passada, alguns pensam que esta forma dominante de “criar um mundo” deve ser simplesmente remodelada, de uma forma que julgam poder apelidar de “sustentável” e que preferem definir como sendo a que assegura as necessidades de hoje garantido, simultaneamente, as necessidades futuras (sem contudo definir que necessidades são essas). Mas é possível “criar outros mundos”, por via de descrições alternativas á descrição dominante. È possível criar mundos: de futuro aberto; não guiados (pelo menos, exclusivamente) pelas leis de mercado; onde não há necessariamente pobres e ricos; e onde uma ciência/saber reflexivo e uma tecnologia não arrogante (pós-modernos) são capazes de se repensar internamente e de conviver harmoniosamente com outras formas de saber, fazer e sentir. Assim, a educação para a sustentabilidade deverá ser assumida como uma
“rede de interacções em linguagem, baseadas num novo projecto de futuro que visa: a) a curto/médio prazo, a promoção de experiências educativas ontogénicas que ajudem cada um a reconstruir a sua consciência e desenvolver atitudes e comportamentos com ela condizentes; b) a longo prazo, estabilização cultural dessa consciência por forma a que se construam novas formas de vida humana e sociedades sem pobreza, mais democráticas, pacíficas e solidárias com novas formas de produção e distribuição da riqueza, reintegradas no equilíbrio natural global e que a cada momento sejam capazes de inventar formas mais sustentáveis de (…) promover uma harmoniosa coexistência com os outros seres vivos e o substracto que os suporta” (Freitas, 2004 a)
Uma tal perspectiva (que, por vocação, pretende impregnar todos os actos educativos) ir-se-á encontrando, em maior ou menor grau, com todas as diferentes abordagens educativas da realidade e, muito em particular, com a EA, da mesma forma outras dimensões educativas (e, em especial, a EA), ao alargar o seu campo de contextualização problemática, acabarão por se ir encontrando com a EpS. Talvez, um dia cheguemos ao ponto de não necessitar de adjectivar as abordagens educativas podendo falar, simplesmente, de EDUCAÇÃO… ou talvez não.
4.2. Algumas mudanças necessárias no âmbito da educação em ciências
Do enquadramento que acaba de realizar-se emergem, em nossa opinião, numerosas implicações que, de forma participada e inovadora, deverão começar a ser reflectidas tanto pelas escolas (e respectivos professores e alunos), como pelos responsáveis pela definição de políticas educativas. Ao terminar esta nossa contribuição para o repensar da educação em geral e da educação em ciências, em particular, procuraremos agora dar, um contributo para o repensar necessário e urgente do último segmento da actual escolaridade obrigatória – o 3.º ciclo do ensino básico.
4.2.1. Orientações curriculares em vigor
A análise das actuais orientações curriculares do 3.º ciclo permite identificar, na Introdução e, mesmo, nas “Competências Essenciais para a Literacia Científica a desenvolver durante o 3.º ciclo”, um interessante e promissor conjunto de princípios que, contudo, como veremos: a) não têm, depois, total consonância com a forma de organizar e propor as “Experiência educativas” para cada um dos “Temas Organizadores”; b) não foram acompanhadas de medidas organizacionais e formativas que garantam um mínimo de condições para a sua aplicabilidade; c) não parecem estar, em geral, a ser seguidos pelas escolas e professores, não passando de uma mera forma diferente de apresentar as mesmas coisas. Assim, e independentemente do esforço, boa vontade e tentativa de inovação, dos autores das orientações, estamos perante mais uma reordenação curricular meramente formal que pouco ou nada mudou na realidade educativas das escolas e nas aprendizagens dos alunos.
Haverá, ainda que realçar que o documento que aqui (muito sumariamente, em alguns dos seus traços gerais) se analisa está (ou pretende estar) claramente vinculado a postulados construtivistas/cognitivistas de aprendizagem, na sua modalidade mais recente do sócio-construtivismo. Ora, em tal abordagem (pese embora toda a sua “generosidade” e a aparente coincidência, nos seus aspectos de superfície, com as perspectivas que atrás defendemos), perpassa ainda, de alguma forma, uma lógica de “racionalidade científica” legitimadora da ciência como o reconhecimento. Vejamos, por exemplo, a ideia de, em termos de “conhecimento epistemológico”, propor
“a análise e debate de relatos de descobertas científicas, nos quais se evidenciem êxitos e fracassos, persistência 8e modos de trabalho de diferentes cientistas, influências da sociedade sobre a Ciência, possibilitando ao aluno confrontar, por um lado, as explicações científicas com as do senso comum, por outro, a ciência, a arte e a religião.” (p. 5).
Embora possam, sem dúvida, reivindicar múltiplos sentidos, para a interpretação do proposto, parece-nos que o mais obviamente acabará por resultar será a do elogio da ciência sobre o senso comum, “afogando” no dito “senso comum” toda a riqueza cultural dos conhecimentos tradicionais, vítimas de epistemicídio ou de pirataria. Como o mais fácil será, também, que, na apreciação da relação entre ciência, arte e religião, acabe por resultar tão somente, a imposição simplista da mais valia da ciência, em detrimento da análise complexa centrada nas múltiplas influências entre aqueles domínios.
A questão da designação “orientações curriculares”. “A opção pelo termo orientações curriculares em vez de programas inscreve-se na ideia da flexibilização curricular, tentando que o currículo formal possa dar lugar a decisões curriculares que impliquem práticas de ensino e aprendizagem diferentes” (DEB, ME, 2001, p.3). Eis um dos importantes princípios que, depois, não parece, nem estar em total consonância com as “experiências educativas” propostas, nem estar a ter reais efeitos ao nível dos professores e escolas.
Efectivamente, sob a designação “experiências educativas”, na coluna destinada a cada disciplina, encontramos, primeiro, somente a enumeração de um conjunto de tópicos programáticos, entremeada de referências (como se fossem conteúdos) a dimensões reflexivas tais como “Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente” (7.º ano de Ciências Naturais), ou “Custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas” (8.º ano, neste caso incluída na parte conjunta às Ciências Físico-Químicas e Ciências Naturais) ou, ainda, “Ciência e Tecnologia e qualidade de vida” (9.º ano, igualmente parte conjunta). Numa posterior maior discriminação das referidas “experiências educativas”, os tópicos/dimensões reflexivas são de novo apresentados, em conjunto com algumas sugestões metodológicas, para cada um deles.
Este tipo de organização curricular, nomeadamente, se (como aconteceu) não acompanhada de profundas reestruturações na gestão pedagógica das escolas e uma generalizada formação de professores, não garante, só por si, grandes alterações. Objectivamente, por razões de natureza complexa, onde os manuais escolares (e uma certa forma de os utilizar) têm um importante lugar, assistiu-se a uma total normalização e quase completa uniformização curricular e, tudo leva a crer que, salvo raras excepções, nada de muito substantivo tenha acontecido, salvo um reajuste de conteúdos e um ou outro acerto metodológico.
Também a ideia de “sempre que possível”, recorrer a “situações de aprendizagem centradas na resolução de problemas”, acaba por ser um pouco “trucidada” pela lógica formal de organização das “experiências educativas”.
A reflexão sobre a natureza da ciência. Em primeiro lugar, e de um ponto de vista da análise interna do documento das Orientações curriculares, reconhece-se, mais uma vez, a procura a intencionalidade e profundidade da abordagem desejada – bem presente na frase “Em qualquer caso, a abordagem deste assunto75 [Ciência e conhecimento do Universo]76
75 Sublinhado da nossa responsabilidade. 76 Parêntesis da nossa responsabilidade.
permitirá reconhecer a Ciência como indissociável da Tecnologia e influenciada por interesses sociais e económicos” (p. 13). Reconhece-se, ainda, a preocupação com o realçar de que “este assunto77 [Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente]78 é comum às duas disciplinas e estará subjacente à exploração dos conteúdos ao longo dos três anos. Nesta temática, a abordagem deve ser muito geral, consciencializando os alunos para a importância das interacções entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente” (p. 12). Porém, depois, tudo isto fica um pouco comprometido, com a solução formal adoptada que passou por:
a) incluir, em geral, essa reflexão sobre a ciência e tecnologia, como se fosse um conteúdo;
b) “amarrar” essa reflexão a certos tópicos do programa, ora explicitamente só na disciplina de Ciências Naturais (CN) (“Ciência produto da actividade humana” e “Ciência e conhecimento do Universo”, 1.º Tema) ora num espaço de eventual gestão conjunta das duas disciplinas (“Custos, benefícios e riscos das inovações científicas e tecnológicas”, como sub-tópico da “Gestão sustentável dos recursos”, Tema 3 e “Ciência e Tecnologia e Qualidade de vida”, Tema 4);
A problemática da interdisciplinaridade. Neste domínio, as contradições internas do documento e as contradições resultantes de decisões de gestão ao nível das escolas, criam um contexto em que, praticamente, nada se alterou, relativamente ao passado. Em termos de contradições do documento, basta atentar, na frase abaixo transcrita
As ’Orientações Curriculares’ surgem como um documento único para a área das Ciências Físicas e Naturais, ficando desdobradas em Ciências Naturais e Ciências Físico-Químicas, que são apresentadas em paralelo. Não se propõe com esta organização uma única disciplina leccionada por um único professor. Respeita-se a individualidade disciplinar e considera-se mais proveitoso existirem dois professores, com os respectivos saberes, como responsáveis por cada uma das componentes da área. Pretende-se evidenciar conteúdos tradicionalmente considerados independentes e sem qualquer relação. Deste modo, facilita-se aos professores o conhecimento do que se preconiza como fundamental os alunos saberem nas duas disciplinas, bem
77 Sublinhado da nossa responsabilidade. 78 Parêntesis da nossa responsabilidade.
como lhes permite, se assim o entenderem, organizarem colaborativamente as suas aulas, ou alguns conteúdos ou ainda orientarem os alunos no desenvolvimento de projectos comuns.
De facto, a interdisciplinaridade, a colaboração na leccionação de alguns conteúdos e o desenvolvimento de projectos comuns, parece ser mais uma opção do que uma orientação. Mas, e se essa opção não for adoptada, como se gerem os conteúdos e intenções atribuídas, em conjunto, às duas disciplinas?
Se a esta realidade acrescentarmos o facto de haver escolas em que as disciplinas que integram a área disciplinar nem sequer pertencem ao mesmo departamento curricular, pelo que, de todo, não constituem uma área disciplinar, qual será o resultado final? De uma análise das escolas em que existem núcleos de estágio da Universidade do Minho, nestes domínios disciplinares, durante os anos de 2004-2005 não temos conhecimento de uma em que se possa falar de uma ampla, consistente e reflectida colaboração entre os dois grupos, na aplicação das componentes curriculares. Na maioria dos casos em que há alguma colaboração ela limitase a uma divisão, mais ou menos administrativa dos tópicos comuns a abordar por cada um das disciplinas.
4.2.2. Uma desejável reorientação das escolas numa lógica de educação para a sustentabilidade
A acção deverá incidir tanto no domínio curricular (reorientação curricular) como ao nível das actividades educativas não curriculares (especialmente daquelas que promovem o reforço de ligação da escola à comunidade) e do funcionamento das escolas (onde a reorganização dos espaços, dos tempos e da própria gestão escolar constituiriam aspectos prioritários). Para que tal se torne possível é necessário evitar os erros que, recorrentemente, têm sido cometidos e, concretamente, comprometer grande parte das reorientações/reformas pela não implementação de medidas que eram indispensáveis à sua concretização (problemas referentes à organização dos grupos de docência, organização das estruturas de gestão pedagógica das escolas, formas de avaliação das experiências implementadas, etc.)
Reorientação curricular. A intervenção a nível curricular não deverá ser pensada numa lógica aditiva, de introdução de novos conteúdos e, muito menos, de novas disciplinas no currículo, mas antes numa lógica de reorientação. Esta reorientação curricular deverá ser sugerida a todas as escolas, através de documentos estratégicos de âmbito nacional, e implementada num contexto de real gestão flexível do currículo (exercido pelos órgãos de gestão pedagógica das escolas, departamentos curriculares e áreas disciplinares e/ou grupos disciplinares) que atenda e dê realce às realidades e problemas locais e contextos geo-regionais.
Uma possibilidade interessante seria organizar o currículo numa lógica de Aprendizagem Baseada em Problemas (Barrows & Tamblym, 1980; Boud, 1985; Barrows, 1986; Savin-Baden, 2000; Savin-Baden & Major, 2004). Assim, seriam os problemas (acompanhados por todos os professores) a guiar a organização curricular servindo o espaço curricular disciplinar para a abordagem complementar e mais especializada de conhecimentos “substantivos”, “processuais” e “epistemológicos”, necessários à resolução dos problemas. Uma tal opção poderia (pelo menos em parte) assentar na reorganização da área projecto, acompanhada da reestruturação das componentes “estudo acompanhado” e “formação cívica”. A bondade das intenções que levaram à sua criação não basta, só por si, em nossa opinião, para as legitimar. Que avaliação foi feita destas componentes? Somos, manifestamente, contra o ensino acompanhado tal qual está a ser, na generalidade, implementado. Por outro lado, a cidadania não se aprende numa disciplina que, muitas vezes, acaba sendo “subvertida” com problemas relativos à direcção de turma e, até, complementos a conteúdos disciplinares. A aprendizagem da cidadania (sustentável) poderá e deverá, em nossa opinião, concretizar-se, como adiante se indica, ou seja, por vivência na escola e na comunidade.
As experiências de reorientação curricular deverão ser alvo de monitorização e avaliação interna (escolas e agrupamentos de escolas) e externa (ministério e sociedade civil) em ciclos temporais a definir (2/3 anos). A reorientação curricular tem que, obrigatoriamente, prever, também, uma alteração das formas de avaliação e da inter-relação entre a avaliação continuada e as provas finais.
Dimensão não curricular. Mas, para além disso, as escolas devem ser transformadas em espaços de vivência activa e cooperativa de experiências de sustentabilidade. De entre várias medidas possíveis salientam-se: a avaliação diagnóstica dos principais constrangimentos da escola como espaço de vida e construção de experiências de sustentabilidade; o desenho, pelos órgãos de gestão, de um plano para dez anos (com, pelo menos, metas intermédias de 5 anos) de transformação da escola numa “Escola Sustentável”; a realização de workshops com os vários intervenientes educativos (professores, auxiliares educativos, representantes dos alunos), com vista à identificação dos contributos, individuais e colectivos, para melhorar a sustentabilidade da escola; etc.
Cada instituição educativa deve reforçar e aprofundar os seus laços com a comunidade, fazendo com que as escolas e agrupamentos escolares participem activamente na análise critica e resolução da problemas locais, utilizando as experiências de sustentabilidade comunitária como matéria educativa substantiva e que as comunidades estejam informadas e colaborem com experiências de sustentabilidade implementadas nas escolas.
BIBLIOGRAFIA
ATLAN, Henry (1994). Com Razão ou Sem Ela. Lisboa: Instituto Piaget. AYALA, Francisco. (1983). El concepto de progreso biológico. In AYLA, Francisco. &
DOBZHANSKY, Theodosius. (Eds), Estudios sobre filosofía da biología, pp. 431-451. Barcelona: Editorial Ariel. BACHELARD, Gaston (1996).O Novo Espírito Científico. Lisboa: Edições 70. BACHELARD, Gaston (1986). La formation de l’ esprit scientifique. Paris:PUF. BACHELARD, Gaston (1984). A Epistemologia. Lisboa: Edições 70. BACHELARD, Gaston (1975). Le racionalisme appliqué. Paris:PUF.
BATESON, Gregory. (1987). Natureza e Espírito. Lisboa: Publicações D. Quixote.
BERTALANFFY, L. (1974). Robots, Hombres e Mentes. Madrid: Ediciones Guadarrama.
BIFANI, Paolo. Medio Ambiente e Desarrollo Sostenible. Madrid: IEPALA Editora, 1999.
BOHM, D. & PEAT, D. (1989). Ciência, Ordem e Criatividade. Lisboa: Gradiva – Publicações, Lda.
BRÜGGER, Paula. Educação ou adestramento ambiental? (2004). Brasil, Florianópolis: Letras Contemporâneas Oficina Editorial, Ltda..
CACHAPUZ, António (1997). Investigação em Didáctica: Problemas e perspectivas. In Leite et al. (Org.), Didácticas/Metodologias da Educação. Braga: Departamento de Metodologias da Educação, Universidade do Minho, pp. 1145-1149.
CACHAPUZ, António, PRAIA, João & JORGE, Manuela (2002). Ciência, Educação em Ciência e Ensino das Ciências. Lisboa: MEC.
CANGUILHEM, Georges (sem data). Ideologia e Racionalidade nas Ciências da Vida. Lisboa: Edições 70.
CAPRA, Fritjof (2002). As Conexões Ocultas. Ciência para uma vida sustentável. 3.ª Edição. São Paulo: Editorial Cultrix.
CAPRETTINI, Gian Paolo, FERRARO, Guido & FILORAMO, Giovanni (1987). Mythos/logos. In Enciclopédia EINAUDI, 12, Muthos/Logos, Sagardo/profano. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
CARIDE, José António & MEIRA, Pablo (2004). Educação Ambiental e Desenvolvimento Humano. Lisboa: Instituto Piaget.
CAVALCANTI, Clovis (Org.) (2003). Desenvolvimento e Natureza. Estudos para uma sociedade sustentável. Brasil, S. Paulo: Cortez Editora.
CID, Maria. & VALENTE, Odete (1997). A perspectiva ciência-tecnologia e sociedade: alguns efeitos na aprendizagem dos alunos. In LEITE et al. (Org.), Didácticas/Metodologias da Educação. Braga: Departamento de Metodologias da Educação, Universidade do Minho, pp. 187-198.
COHEN, Bernard (1988). O Nascimento de uma Nova Física. Lisboa: Gradiva – Publicações lda.
COMTE, August (1990). Reorganizar a Sociedade. Lisboa: Guimarães Editores.
DAMÁSIO, António (2003). Ao Encontro de Espinosa. As Emoções Sociais e a neurobiologia do Sentir. Lisboa: publicações Europa-América. DESCARTES, René (1987). O Discurso de Método. Lisboa: Edições 70.
DAMÁSIO, António (2001). Sentimento de Si. O corpo, a Emoção e a neurobiologia da Consciência. Lisboa: publicações Europa-América.
DAMÁSIO, António (1995). O Erro de Descartes Emoção, Razão e Cérebro Humano. Lisboa: Publicações Europa-América.
DESCARTES, René (1995).Os Princípios da Filosofia. Lisboa: Guimarães Editores.
EDELMAN, Gerald (1995). Biologia da Consciência. Lisboa: Edições do Instituto Piaget.
EDELMAN, Gerald (1983). El problema del reconocimiento molecular por un sistema selectivo. In Ayla, F. & Dobzhansky, T. (Eds), Estudios sobre filosofía da biología, pp. 75-88. Barcelona: Editorial Ariel.
EPD/UNESCO (1999). Sustainable Development. Education the force of change. Caracas: UNESCO.
FEYERABEND, Paul (1991). Adeus à Razão. Lisboa: Edições 70.
FEYERABEND, Paul (1986). Tratado contra el método. Madrid: Editorial Tecnos.
FEYERABEND, Paul (1982). La ciencia en una sociedad libre. Madrid: Siglo XXI de España Editores, S.A.
FIEN, John (1999). Reorienting Formal Education for Sustainable Development. In EDP/UNESCO (Eds) Sustainable Development – Education, the force of change. Caracas: UNESCO.
FIEN, John & TILBURY, Daniella (2002). The global challenge of sustainability. In Tilbury, D., Stevenson, R.B., Fien, J. & Schereuder, D. (Eds.) Education and Sustainability: responding to the Global Challenge, Comission on Education and Communication, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, xii + 206p., pp. 1-12.
FITAS, Augusto (1988). Popper, Kunh e Lakatos: três formas diferentes de estudar a ciência. Vértice, 69-77.
FELURI, Matias (Org.) (2002). Intercultura: Estudos Emergentes. Rio grande do Sul: Editora Unisul
FELURI, Matias (Org.) (2003). Educação Intercultural. Mediações necessárias. Rio de Janeiro: DP&A
FORMOSINHO, Sebastião (1988). Nos Bastidores da Ciência. Lisboa: Gradiva.
FOULCAULT, Michel (2004). A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária.4
FREITAS, Mário (in press). Education for Sustainability: conceptual and methodological framework. Proceedings of the 3rd World Congress of Environmental Education. Turim, October 2005.
FREITAS, Mário (2005a). Educação para o Desenvolvimento Sustentável: sugestões para a sua implementação no âmbito da Década das Nações Unidas. In SILVA, Bento & ALMEIDA, Leandro (Org.). Actas Electrónicas do VIII Congresso Galaico Português de PsicoPedagogia, p. 1474-1488.
FREITAS, Mário (2005b). Educação Ambiental para a sustentabilidade – olhares cruzados, convergências desejáveis. Anais do IV ENCONTRO DE EDUCADOR@S AMBIENTAIS DE MATO GROSSO – Sociedades Sustentáveis ou Desenvolvimento Sustentável: opções e identidades da Educação Ambiental. Cuiabá: RedeMato-Grossense de Educação Ambiental, p. 39-41[conferência 3].
FREITAS, Mário (2004b). A Educação para o Desenvolvimento Sustentável e a Formação de Educadores/Professores. Brasil, Florianópolis, Perspectivas, Vol. 22, n.º 2, pp. 547-575.
FREITAS, Mário (2004a), Concepções de Desenvolvimento Sustentável em estudantes de uma Licenciatura em Educação, em Portugal. Implicações para a reorientação curricular no âmbito da Década das NU, Actas do I Congresso International Educación, Lenguaje y Sociedad, Tensiones Educativas en América Latina. Available file://localhost/Volumes/IELES/705.htm
FREITAS, Mário (2001). O trabalho prático (laboratorial e de campo) na promoção de áreas transversais do currículo/Área projecto/projecto tecnológico). In Veríssimo A., Pedrosa, A. & Ribeiro, R. (coord.) (Re)pensar o Ensino das Ciências. Lisboa: Ministério da duração, Departamento do Ensino Secundário, pp. 75-87, 2001 a
FREITAS, Mário (2000). A Educação Ambiental (e para a sustentabilidade) como Projecto. In Actas das III Jornadas de Educação para o Ambiente. Viana do Castelo: Câmara Municipal, p. 45-72, 2000.
FREITAS, Mário (1999). Formação inicial e contínua de professores de Biologia e Geologia. O caso particular da Licenciatura em Ensino da Biologia e Geologia da Universidade do Minho. 1998. Tese (Doutoramento em Educação)–Universidade do Minho, Braga, Portugal.
FREITAS, Mário & DUARTE, Maria da Conceição (1990). Ensino da Biologia: implicações da investigação sobre concepções alternativas dos alunos. Aprendizagem e Desenvolvimento, vol. III, n.º 11/12, 125-137.
GARCÍA BORRÓN, J. (1987). La filosofía y las Ciencias. Barcelona: Editorial Crítica.
GEYMONAT, Ludovico & Giorello, Giulio (1986). As Razões da Ciência. Lisboa: Edições
70.
GEYMONAT, Ludovico (sem data). Elementos de Filosofia da Ciência. Lisboa: Gradiva.
GIL PÉREZ, Daniel (1991). ¿Qué han de saber hacer los profesores de ciencias? (Intento de síntesis de las aportaciones de la investigación didáctica). Enseñanza de las Ciencias, 9 (1), pp. 69-77.
GILSON, Étienne (1987). Introdução. In Descartes, R. (1987), Discurso do Método. Lisboa: Edições 70.
GOODFIELD, June (sem data). Um mundo imaginado. Uma história de descoberta científica. Lisboa: Gradiva
GOODFIELD, June (1983). Estrategias cambiantes: comparación de actitudes reducionistas en la investigación médica y biológica en los siglos XIX y XX. In Ayla, F. & Dobzhansky,
T. (Eds), Estudios sobre filosofía da biología, pp. 98-126. Barcelona: Editorial Ariel.
GOULD, Stephen (1997). Prefácio. In Correia, C., O ovário de Eva, Lisboa: Relógio d’Água Editores.
GOULD, Stephen (1988). O mundo depois de Darwin – reflexões sobre a história natural. Lisboa: Editorial Presença.
HABERMAS, Jürngen (1968). Técnica e Ciência como Ideologia. Lisboa: Edições 70.
HALL, Richard (1987). Se puede utilizar la historia de la ciencia para decidir entre metodologias rivales?. In LAKATOS, Imre (1987), Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales, pp. 105-119. Madrid: Editorial Tecnos, S.A.
HARRÉ, Rom As filosofias da Ciência. Lisboa: Edições 70.
HENDERSON, Kate & TILBURY, Daniella (2004). Whole-school Approaches to Sustainability: An International Review of Sustainable School Prorams. Report Prepared by the Australian Research Institute in Education for Sustainability (AIRES) for the Department of the Environment and Heritage, Australian Government. Sydney, Austrália: AIRES, Macquarie University.
HOPKINS, Charles. & MCKEOWN Rosalyn (2002). Education for sustainable development: an international perspective. In: TILBURY, D. et al. (eds.) Education and Sustainability: responding to the Global Challenge. 1.ª Edição. Switzerland, Gland and Cambridge: CEC/ IUCN, p. 13-24.
HUME, David (1989). Investigação sobre o Entendimento Humano. Lisboa: Edições 70.
JIMÉNEZ HERRERO, Luís (1997). Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica. España, Madrid: Editorial SINTESIS, S.A.
JORGE, Manuela (1994). Da Epistemologia à Biologia. Lisboa: Instituto Piaget.
KELLY, George (1955). The phychology of personal constructs. New York: W.W. Norton & Company Inc.
KOERTGE, Noretta (1987). La critica inter-teorica y el desarrollo de la ciencia. In Lakatos, Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales, pp. 121-142. Madrid: Editorial Tecnos, S.A.
KUNH, Thomas (1987). Notas sobre Lakatos. In Lakatos, Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales, pp. 80-95. Madrid: Editorial Tecnos, S.A.
KUNH, Thomas (1970). The structure of scientific revolutions. Chicago: Chicago University Press.
LAKATOS, Imre (1987). Historia de la ciencia y sus reconstrucciones racionales. Madrid: Editorial Tecnos, S. A.
LATOUR, Bruno (2005). Jamais fomos modernos. S. Paulo: Editora 34.
LATOUR, Bruno (2004). Políticas da natureza. Como fazer ciência na democracia.
S. Paulo: EDUSC.
LEITE, Sérgio, FREITAS, Mário, SÉNECA, Ana (2005). Promoting Education for Sustainable Development through Communitarian Poblem Solving: A Case Stuady in the National Park of Peneda-Gerês, em LEAL FILHO, Walter (Ed.). Handbook of Sustainability Research, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Chapter 23, p.595-622.
LEFF, Enrico (2000). Epistemologia Ambiental. BRFASIL, S. Paulo: Cortez Editora
LUFFIEGO GARCIA, M. & Rabadán Vergara, J. (2000). La evolución del concepto de sostenibilidad y su introdución en la enseñanza. Enseñanza de las Ciências, España, 18 (3),
p. 473-486.
MRAGUIS, Lynn & SAGAN, DORION (1990). Micor-Cosmos. Quatro biliões de anos de evolução microbiana. Lisboa: Edições 70.
MASERA, O., Astier, M., López-Ridaura, S. (1999). Sustentabilidad y manejo de Recursos Naturales. El marco de evaluación MESMIS. México: Mundi-Prensa México, S.A. de C.V.
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco (1990). El arbol del conocimiento. 1.ª Edição. Madrid: Editorial Debate.
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco (1990). A Árvore do Conhecimento As bases biológicas da compreensão humana. S. Paulo: Editoria Pals Athena.
MATURANA, Humberto & VARELA, Francisco (1973). De Máquinas y Seres Vivos. Santiago do Chile: Editorial Universitaria.
MAYOR, Federico. (1999). The role of Culture in Sustainable Development. In: EDP/UNSCO (Ed.) Sustainable Development — education the force of change. Caracas: EDP/UNESCO, p. 11-15, 1999.
MAYR, Eernest (1988). Toward a New Philosophy of Biology. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
MCKEOWN Rosalyn. & Hopkins Charles. (2002). Education for sustainable development: an international perspective, Environmental education Research, Vol. 9 No. 1, pp. 117-128.
METTE de VISER, Anne (Ed.) (2002) Sustainable is more than able - viewpoints on education for sustainability. Ollerup: Network for Ecological Education and Practice, pp. 1-44.
MONOD, Jean (1983). Sobre el azar y la necesidad. In Ayla, F. & Dobzhansky, T. (Eds), Estudios sobre filosofía da biología, pp. 452-472. Barcelona: Editorial Ariel.
MONTALENTI, G. (1983). Desde Aristóteles hasta Demócrito vía Darwin: Breve perspectiva de un largo recorrido histórico y lógico. In Ayla, F. & Dobzhansky, T. (Eds), Estudios sobre filosofía da biología, pp. 25-44. Barcelona: Editorial Ariel.
MORIN, Edgar (1999). The Reform of the University. In: EDP/UNSCO (Ed.) Sustainable Development – education the force of change”. 1.ª Edição. Caracas: EDP/UNESCO, pp. 17-25.
OLIVEIRA, Maria Clara (1999). A Educação como Processo Auto-Organizativo. Fundamentos Teóricos para uma Educação Permanente e Comunitária. Lisboa: Instituto Piaget.
PIATELLI-PALMARINI, Massimo (1983). Teorias da Linguagem, Teorias da Aprendizagem. O debate entre Jean Piaget & Noam Chomsky. S. Paulo: Editorial Cultrix/Editora da Universidade de S. Paulo.
POLITI, Elie (1999). The Role of an Educational Institution in Environmental Changes. In: EDP/UNSCO (ed.) Sustainable Development – education the force of change. 1.ª Edição. Caracas: EDP/UNESCO, pp. 57-62.
POPPER, Karl (1987 a). O Realismo e o Objectivo da Ciência (1.º volume do Pós-Escrito à Lógica da Descoberta Científica). Lisboa: Publicações D. Quixote.
POPPER, Karl (1983). La reducción científica y la incompletitud esencial de toda a ciencia. In Ayla, F. & Dobzhansky, T. (Eds), Estudios sobre filosofía da biología, pp. 333-364. Barcelona: Editorial Ariel.
POPPER, Karl (1987b). Sociedade Aberta, Universo Aberto. Lisboa: Publicações
D. Quixote.
POPPER, Karl (1990). O Futuro está Aberto. Lisboa: Editorial Fragmentos.
PRAIA, João (1996). Da Insatisfação de uma Educação Científica Actual à Necessidade de uma Reflexão (Re) vitalizadora em torno da Filosofia e da História da Ciência. Revista de Educação, vol. VI (I) p.105-112.
PRIGOGINE, Ilya & STENGERS, Isabelle (sem data). A Nova Aliança. Lisboa: Gradiva.
RADL, Emanuel (1988). Historia de las teorias biológicas.1e 2. Hasta el siglo XIX. Madrid: Alianza Editorial, S.A.
SANTOS, Eduarda (1991). Mudança Conceptual na Sala de Aula. Lisboa: Livros Horizonte.
SANTOS, Boaventura (Org.) (2005). Semear outras soluções. Os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira.
SANTOS, Boaventura (2005). O Fórum Social Mundial. Manual de Uso. Porto: Edições Afrontamento.
SANTOS, Boaventura (1989). Introdução a uma ciência pós-moderna. Porto: Edições Afrontamento.
SANTOS, Boaventura (1987). Um discurso sobre as ciências. Lisboa: Edições Afrontamento.
SEARLE, John (1997). Mente, cérebro e ciência. Lisboa: Edições 70.
SEQUEIRA, Manuel (1996). Educação e Cultura Científica. Algumas Reflexões sobre o Ensino das Ciências em Portugal. Revista de Educação, vol. VI (1), p. 113-115.
SILVA, Augusto (Org.) (2001). Linguagem e Cognição. A perspectiva da Linguística Cognitiva. Braga: Associação Portuguesa de Linguística/Universidade Católica Português, Faculdade de Filosofia de Braga.
SOUSA, A. (sem data). Introdução. In Bacon, F. (sem data). Novum Organum. Rés-Editora Lda., pp. 5-14.
STIGLITZ, Joseph (2002). Globalização. A Grande Desilusão. Portugal, Lisboa: Terramar
– Editores, Distribuidores e Livreiros, Lda.
TILBURY, Daniela & WORTMAN, David. (2004). Engaging People in Sustainability. Gland and Cmbridge: Comission on Education and Communication, IUCN.
TOULMIN, Stephen (1977). La comprensión humana. I. El uso colectivo y la evolución de los conceptos. Madrid: Alianza Editorial.
TRINDADE, Vitor (1996). Estudo da atitude científica dos professores. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.
TRINDADE, Vitor (1996). A Educação em Ciência: Algumas Reflexões. Revista de Educação, vol. VI (1), pp. 127-132.
UNESCO (2004). “United Nations Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014. Draft International Implementation Scheme”. Available http://portal.unesco.org/education/. UNESCO.Atlan, H. (1993). Tudo, Não, Talvez – Educação e Verdade. Lisboa: Instituto Piaget.
VARELA, Francisco (sem data). Conhecer – As ciências cognitivas tendências e perspectivas. Lisboa: Edições do Instituto Piaget.
VARELA, Francisco (1997). Conhecer. As ciências cognitivas – tendências e perspectivas. Lisboa: Instituto Piaget.
VARELA, Francisco (1989). Autonomie et Connaissance – Essai sur le Vivant. Paris: Éditions du Seuil.
VARELA, Francisco (1983). L’ auto – organisation: de l’ apparence au mécanisme. In Dupuy, J. & Dunouchel (Orgs.), Paris: Éditions du Seuil, pp. 147-164.
VARELA, Francisco, THOMPSON, Evan & ROSH, Eleanor (1992). De cuerpo presente – las ciencias cognitivas e la experiencia humana. Barcelona: Editorial Gedisa.